Na praça de alimentação, uma mulher de feição oriental chegou com o olho direito roxo por trás dos óculos. Tinha perfeitamente a aparência de quem tinha levado um soco. Ficou em pé conversando com as amigas, também orientais, que estavam sentadas. Depois se sentou também. Um guarda de segurança do shopping veio, depois outro. Ambos caucasianos. Passaram um bom tempo conversando com todas. Ao final, a mulher do olho roxo e os guardas se retiraram, enquanto as outras permaneceram onde estavam, sem parecer demasiado tensas ou preocupadas. De onde eu estava, não pude ouvir quase nada do que falaram.
—
Estava numa noite esperando o ônibus nas gaiolas de vidro que existem em vários dos pontos de ônibus da cidade. Não são aquecidas, mas ao menos protegem do vento. Lá dentro havia um homem negro muito magro caminhado lentamente da extremidade direita da gaiola (onde eu estava) até o meio dela. Um passo por vez. Ao chegar no meio, voltava a caminhar rumo à extremidade direita. E assim por diante. Após algum tempo, chegou o ônibus dele, o que o fez finalmente correr. Quase todas as outras pessoas que estavam na gaiola também saíram para pegar este ônibus. Ficamos apenas eu e outro homem, sentado no canto oposto ao meu. Ele olhou para mim e perguntou se eu tinha algum trocado. Disse que não. Ele agradeceu, disse que iria rezar por mim e saiu da gaiola, segurando a sua placa de papelão.
—
Voltar para casa bêbado à noite pode levar a alguns pensamentos que nunca tinha imaginado. Sem carro, o que por si só seria um perigo nesta situação, as opções são aplicativo ou ônibus. Ao contrário de São Paulo, aqui pode ser difícil encontrar um carro por aplicativo a depender da hora e local. Tive que pegar ônibus. Ao fim deu tudo certo, mas enquanto caminhava rumo ao ponto num vento de no mínimo (no máximo) -10 oC com direito a neve, não resisti a imaginar que cair de bêbado na rua naquela situação (o que nunca aconteceu comigo, estando sozinho) acarretaria num sério risco à minha saúde.
Também pensei em muitas outras coisas no caminho, enquanto devaneava com o frio, a neve, o álcool, a vida e a morte, mas daquelas tenho dificuldade agora de me recordar.
Autor: lealdoandrade
Júlia Nigri
Entrevistado Nº 1:
João Ferreira,
28 anos, graduado em Cinema e Audiovisual pela UFBA, trabalha como técnico judiciário do TJDFT.
15 de setembro de 2016,
Brasília-DF.
Entrevista realizada numa mesa para quatro pessoas no calçada do restaurante O Gato Calado, Asa Norte.
12h05.
[João usa camisa social preta listrada, mangas dobradas até os cotovelos. Fala baixo, com segurança, revezando o olhar entre o interlocutor e a rua, não de todo desconfiado. Acende um cigarro durante a entrevista. Provavelmente é gay ou bissexual.]
– (…)
– Júlia Nigri? Ah, sim. Conheço. Acho que passou dois meses e pouco na república de uma amiga em comum. No sofá mesmo. Nunca entendi bem o que ela veio fazer na cidade.
– (…)
– Lembro que ela gostava de catuaba, disse até que bebia antes de virar moda, não sei se era verdade, mas falava como se fosse. Lembro também que em mais de uma noite, todo mundo de bobeira sentado no chão da sala dessa tal república, ela sugeriu de a gente sair pra procurar maconha aqui na Asa Norte. Isso porque a minha amiga, sabe, a da república, não tinha erva em casa, nem sabia direito onde procurar. Os outros amigos também eram meio lentos com esse tipo de conhecimento.
– (…)
– Quê?
– (…)
– Ah, sim. Ela arranjou. Foi engraçada a história. Saca só. Júlia tava a fim de maconha, né? Dizia que um pouco ajudava a conversar e a escrever. Abria a cabeça, fazia fluir a vida interior, todo esse papo new age dos anos 60 que na nossa age, tudo indica, permanece new. Não que eu ache, pelo pouco que a conheci, que ela acreditasse nisso tudo, ao menos num nível profundo, mas era o tipo de coisa que ela adorava falar. Ironicamente, penso.
– (…)
– Uma noite, tava todo mundo bem maconhado, Júlia tinha afinal dado umas voltas sozinha e arranjado um pouco, ela começou a perguntar do signo de cada um presente, e tinha essa menina, foi a única vez em que a vi na vida, não era do nosso grupo, ela era leão com aquário, ou quem sabe era câncer com aquário? Não, acho que era leão mesmo…sei que foi Júlia quem trouxe essa história de signos para a conversa, olha que ninguém até então tinha falado nada de astrologia, o papo antes eram aquelas discussões intermináveis sobre Temer e todos concordavam que tinha sido golpe e que ele devia sair, aliás, ser preso, mas ninguém parecia ser capaz de concordar quanto a quem iria entrar no lugar, e vira-e-mexe rolava até briga por isso, de repente Júlia, essa garota de fora, perguntou dos signos. Todos ficaram surpresos, ninguém estava esperando aquele tema, vai, leviano. Ao menos uns viam desse modo, outros encaravam com grande gravidade. Nessa desavença entre ser algo sério ou não cada um foi respondendo à sua maneira, sem saber como reagir àquela pessoa que mal conhecia alguém ali mas tinha sido capaz de interromper aquela conversa com algo tão despropositado. O pior é que a própria Júlia nem parecia prestar atenção às respostas, eu até imaginei que ela estivesse atenta porém seu rosto permanecia abaixado, apenas mirava os dedões dos próprios pés enquanto cada um, a depender do caso, ou relatava prontamente seu signo e ascendente ou precisava fazer um esforço para se lembrar. Cada alma ali expondo ao mundo a sua combinação astrológica de bom ou mau grado e ela sempre de cabeça baixa. Só quando a menina que nunca voltei a ver falou do seu maldito leão com aquário foi que a Júlia esboçou uma reação, não, minto, estou sendo eufemístico, ela não apenas finalmente levantou a cabeça como se ergueu num salto, lembro a você que todos estavam lombrados e portanto quase imóveis, ela passou a dar voltas pela sala, depois se sentou em frente à menina de leão e começou a perguntar, não, a exigir o resto do seu mapa astral. A menina de leão, tendo por acaso essa curiosidade latente e nunca manifestada quanto ao que o universo lhe guardava, limitou-se a assumir que não sabia, mas podia lhe dar sua data e local de nascimento, caso ajudasse. Júlia nada disse, só aproximou mais a cabeça. A menina falou baixinho, ninguém mais além das duas conseguiu ouvir, e Júlia num transe digno de filme sueco de imediato relatou cada lua e planeta que regia a vida da menina de leão, mas não só, discorreu ainda quanto a cada aspecto da personalidade da moça, tudo que ela guardou para si, traços ocultos que ela não tinha disposição ou coragem para lembrar durante o dia-a-dia. Júlia tudo ali expôs, nem pareceu lhe vir à cabeça que aquilo era uma violação de intimidade, estava ocupada demais vomitando para o mundo a arquitetura psicoastrológica da menina, e esse desnudar foi tão imprevisto que ninguém mais se lembrava de Temer ou seus possíveis sucessores. A sala com o cheiro doce da maconha tinha se tornado palco e peça onde Júlia se apresentava e no seu monólogo foi capaz de acertar qual dos pais da menina de leão tinha fugido sem avisar à família, e veja que era a mãe, o pai seria uma possibilidade de chute, todos sabemos, mais que razoável. A improbabilidade daquelas afirmações certeiras não fugia a mim ou a alguns outros ainda céticos. Não ficando só nisso, ela ainda apontou qual morte de animal de estimação da menina mais a tinha traumatizado até agora, com qual profissão ela tinha sonhado na adolescência e qual exercia na prática, narrou até o momento em que seu tio, irmão da mãe foragida, a bolinou na cozinha numa manhã de domingo, admito que esse não é o tipo de informação que se acha em qualquer fuçada de rede social. Não sabíamos de onde Júlia tirava tudo aquilo, não podia ser só brisa de quem fumou. Nossos queixos enfim caíram quando a menina de leão já em prantos admitiu que sim, tinha sido abusada, e não só pelo tio, mas também pela irmã mais velha, uma vez cada. A menina de leão perguntou para Júlia desde quando ela fazia aquilo e como era possível, se nem mesmo ela se lembrava, se nenhum dos namorados ou melhores amigas souberam, que dom era aquele e, finalmente saindo do transe, Júlia apenas olhou em volta encabulada, admitindo que nunca tinha agido daquele jeito, nem sequer se interessava em astrologia, mas que puta boa maconha era aquela que por acaso tinha arranjado. Finalmente notando o desamparo da menina e o clima geral da sala, ela ficou por um tempo em silêncio e então disse sorrindo que tudo ia ficar bem agora, os astros tinham lhe confessado no ouvido.
– (…)
– Não soubemos bem como agir. Acho que cada um voltou para a sua casa sem falar muito. Uns dois dias depois soubemos que Júlia tinha ido para o Rio.
– (…)
– Ah, a história de como ela arranjou maconha?
– (…)
– Ih, nem lembro mais. Desculpa. Também já deu meu horário de almoço. Na próxima conto, juro. Quando lembrar de mais informações, como faço para lhe achar mesmo?
– (…)
– Entendo. Boa sorte na busca.
Entrevistado Nº 2:
Roberta Scherer,
25 anos, graduanda em Fisioterapia na Estácio, trabalha durante as manhãs como caixa numa loja de ferragens da Tijuca.
12 de novembro de 2016,
Rio de Janeiro-RJ.
Entrevista realizada nas cadeiras de balcão do Bar da Míriam, na Praça Sáenz Peña.
20h23.
[Roberta apareceu com os cabelos cacheados presos, vestindo blusa de renda folgada e short jeans. Só um dos ventiladores do Bar da Míriam funcionava, de forma que ela enxugava o suor na testa com um guardanapo ou a própria tulipa de chopp. Quando eu voltava do banheiro, já de saída do local, flagrei-a anotando seu número no telefone do garçom, com quem trocou olhares durante a entrevista.]
– (…)
– A Júlia? Gente, tô até hoje descrente com aquela menina.
– (…)
– Tem umas três semanas, nós fomos na praia de Copa de tarde e depois saímos na Lapa. Fomos tomar umas num bar, o Tom’s, onde vou desde que tenho dezesseis. Sentamos numa daquelas mesas de calçada, uma meio longe da entrada mas que o garçom amigo sempre tá de olho, e já fomos pedindo uns litrões que o grupo era grande. Logo começou aquela gritaria, um querendo tirar onda com o outro, eu mesmo tava rindo pra caralho, só quando fui encher de novo os copos que vi que Júlia nem tinha encostado no dela. Eu não conhecia ela direito, foi minha colega de trabalho que trouxe pra praia. Elas se descobriram pela internet, não sei se por site ou aplicativo, minha colega até achou no início que era pegação que a outra queria e preferiu ir dizendo logo que não era lésbica, mas Júlia respondeu com uma mensagem rindo e dizendo também não era o negócio dela, só queria conhecer gente para sair na cidade. Estava num hostel e não tinha amigos no Rio, e quem é que vai dizer que ela não tem direito de fazer amizade assim? Sei que ela tava ali calada, na verdade mais do que calada, não se mexia, tava é petrificada, é assim que dizem, né?, só com o cigarro já quase todo queimado na boca, cheio de cinza no copo. Cheguei a pensar que ela tinha infartado. Gritei Caralho, cê tá bem!?, ela só virou o rosto e piscou os dois olhinhos para mim, respondendo Claro, porque não?, o que muito me estranhou, afinal alguém que está bem não costuma deixar cair cinzas na sua cerveja, ainda mais se estiver gelada. Antes de eu questionar se ela não queria talvez beber outra coisa, a verdade é que ninguém tinha perguntado se era cerveja mesmo que ela ia beber, e conheço gente de todo tipo, inclusive gente que não gosta de cerveja, ela se levantou sem dizer nada e entrou na parte de dentro do bar, onde o samba tava tocando e tinha uma multidão.
– (…)
– Não, não podia ser só para ir ao banheiro, pois fazia mais de uma hora que tinha ido, e, por mais que estivesse cheio, ninguém tinha como demorar tanto. Comecei a achar que ela tava passando mal. A minha colega de trabalho, a que trouxe ela, nem se atentou, um cara bonitinho tinha chamado ela para dançar e eles já tavam no love.
– (…)
– Não achei que o mesmo pudesse ter acontecido com a Júlia, ela não tinha cara de quem ia dar bola pra alguém ali, fosse quem fosse. Também não parecia saber dançar. Mas sei que tudo isso podia ser só preconceito meu.
– (…)
– Sim, enfim entrei. Ninguém na nossa mesa tinha mesmo comentado nada, nem deviam ter percebido a ausência dela, a maior parte da gente é assim, se distraem com tudo, menos com o que mais importa. Já eu estava ficando preocupada de verdade. Fui atrás. E o que descobri? VI de longe ela toda tranquila na conversa mais animada do mundo. A mesma pessoa que mal tinha aberto o bico de tarde, quando a gente foi na praia, tava toda palavrosa na mesa do senhor cego que me disseram que bebe lá há quarenta anos.
– (…)
– Sabe essas pessoas que sempre estão por tradição na mesma mesa, bebendo sozinhas? Todo bar tem o seu bêbado de honra. Aquele que gosta do cheiro do balcão mais que da própria casa e dos garçons mais que da própria família. E que antes do meio-dia já tá com a cara inchada mas só volta para casa tarde da noite, breaco. Era com o bêbado de honra do Tom’s que Júlia tava sentada, alegre, gesticulando. E o bêbado de lá ainda por cima é cego. Deve gostar da música. Além da cachaça, é claro.
– (…)
– Ela não devia ter notado. De vez em quando a gente conversa horas com alguém e nem percebe as coisas mais óbvias. A mesa deles era afastada pro canto, onde fazia menos barulho. Eu tinha que chegar mais perto. Tava muito cheio o bar, quando é barato é quase sempre assim. Tentava me aproximar mas não conseguia. Não tinha percebido, mas logo atrás de mim vieram também uns quatro amigos que tavam lá fora fumando. Fizeram um círculo sambando em minha volta pra tirar onda comigo, já sabendo que sou meio azeda com essas coisas. Pra piorar, um deles me tirou para dançar, só nós dois, ele tava ficando meio bêbado e ficou me xavecando. Nem adiantou, pois ele até abria a boca mas as palavras não chegavam para mim, talvez eu até ouvisse mas não escutava. Tudo que prestava atenção era como a alguns metros de mim Júlia descrevia toda uma cena para o cego bêbado, ela se levantava, se abaixava, dava piruetas sem sair da cadeira, e com a mão fazia animais que corriam atrás de meninas formadas pela outra mão, o animal parecia ser um cachorro no início mas talvez fosse só minha imaginação forçando, do jeito que ela fazia, junto com a expressão no seu rosto, tudo apontava para um gato, um grande gato, quem sabe um tigre, que pulava em cima da menina formada na outra mão, Júlia abria e fechava a boca enquanto as mãos subiam e desciam e se entrelaçavam, o cego bêbado com seus olhos inteirinhos brancos parecia tudo ver, não chegava mesmo a piscar, juro por Iansã que para mim ele enxergava, ele via cada gesto que Júlia fazia, até o copo que sempre subia e descia em sua boca estava agora ancorado naquela mesa, só as mãos de Júlia se mexiam, e quando meu amigo disse que eu não parecia ter prestado atenção em nada do que ele disse, eu respondi que não mesmo, não tinha escutado um só som, consegui me livrar e fui até a mesa onde Júlia tava, chegando a tempo apenas de ouvir o cego bêbado pronunciar solene A ti, minha jovem, um brinde. Os dois brindaram e viraram os respectivos copos num só gole. Júlia se levantou e, quando me viu, fez cara de triste e disse que era uma pena que eu tivesse perdido o relato dela.
– (…)
– Perguntei na hora que história foi essa que ela contou, é claro. Ela respondeu, Uma que acabei de inventar. Sobre uma menina que foge durantes horas de um tigre através de ruas desertas em São Paulo. Ela não o vê, mas sente seu odor, ouve seus passos e treme com seus rugidos. Foge por uma manhã e por uma tarde inteiras, mas de noite começa a cansar. Quando finalmente está para ser devorada, sentindo o calor do bafo do tigre no pescoço, se vira e não vê nenhum tigre, somente uma rua iluminada pela lua. Então a menina sorri. Na verdade nunca acreditou que pudesse haver tigres soltos em São Paulo. O tempo todo ele foi somente um perigo que ela mesma inventou, para se obrigar a ser corajosa e conhecer todas as ruas da cidade. Só que, imaginativa como é, a menina inventou tão bem o perigo que precisou fechar os olhos e respirar fundo para se lembrar de que o tigre não passava disso, imaginação.
-(…)
– Júlia falou que sonhava com essa história fazia muito tempo, e nunca tinha narrado a ninguém. Perguntei porque ela tanto mexia as mãos e fazia caras e caretas se o senhor era cego. Ela fez cara de surpresa e retrucou gentilmente que a cega devia ser eu, já que alguém que sorri como ele sorriu ao fim de uma história com meninas e tigres nas ruas de São Paulo jamais poderia ser cego.
Entrevistado Nº 3:
Felipe Susuki,
22 anos, recém-bacharelado em Administração pela PUC-SP, trabalha na empresa de importação de rodas de alumínio do pai.
21 de fevereiro de 2017,
São Paulo-SP.
Entrevista realizada numa mesa para duas pessoas da Lanchonete Nova Pauliceia, Consolação.
16h20.
[Encontro combinado para as 16h. Felipe chegou atrasado. Desceu de sua moto e veio correndo me cumprimentar, pedindo desculpas. Pôs o capacete em cima da mesa, à sua direita. Manteve a jaqueta de motociclista durante a entrevista. Não quis café ou cerveja. Pediu três baurus, apenas um dos quais comeu inteiro. Arranjou as sobras dos outros dois, formadas basicamente por tomates, em um desenho primitivo de rosto no seu prato, utilizando ketchup para o que eu imaginei serem os cabelos. Talvez fosse um rosto feminino.]
– (…)
– Cara, eu a conheci no carnaval do ano passado. Aqui em São Paulo. Dei sorte de ter resolvido passar aquele período por aqui. Me disse que pouco antes tinha dado uma volta pela Argentina, ou foi Uruguai, agora tô em dúvida. Talvez os dois. Já depois que saiu daqui, não tenho ideia. Você deve estar sabendo melhor que eu.
– (…)
– É. Imagino que ainda hoje seja difícil descobrir onde está alguém que não quer ser encontrado. Bom, São Paulo, nos próximos dias, pode ser com sorte o lugar para você encontrar a sua pessoa desaparecida. O nosso carnaval tá ficando bacana, não sei se você tá sabendo. Já pulou festa aqui?
– (…)
– Saquei. É, pra mim foi novo, acho que pra Júlia também, pelo que ela me disse. Eu sempre ia com minha família pro interior nessa época. Churrascão no sítio, toda a parentada, aquela coisa. Ano passado, fiz uma revolta. Digo, revoltinha. Porque a única coisa que fiz mesmo foi me despedir deles, colocar minha coisas numa mochila e sair pra passar uns dias no quarto de visitas do apê de um brother que fica ali na Vila Madalena. O esquema seria diariamente primeiro beber em casa, depois sair pra rua, aí beber mais e por fim voltar só pra capotar na cama. Com sorte, acompanhado. Se não, foda-se, ainda é bom. Com um pouco de fígado, dá pra manter o ritmo por uns dias.
– (…)
– Ah, a Júlia, sim. Já era segunda-feira. Eu tava emendando uma ressaca atrás da outra. Tínhamos começado o dia nos blocos da Vila Madá mas, quando percebi, o meu grupo tava indo em direção ao centro, onde estava melhor. Tava super cheio, mas foi só chegar lá, nem tinha dado quinze minutos, começou a chover. Não chuvinha, foi um pé-d’água mesmo. Aí, meu amigo, foi um corre-corre. Algumas pessoas se apertaram debaixo de marquises, uns outros correram pro metrô, mas descobri que os mais alegres aproveitaram pra dançar. Também os mais bêbados.
– (…)
– Eu dancei, é claro. Ao menos literalmente. A minha fantasia era de papelão e não durou nada, já tava desfalecendo, de forma que eu parecia ridículo. A verdade é que eu não tava nem aí. A minha maior preocupação em cada bloco sempre foi a de conseguir a bebida com melhor custo-benefício, nisso modéstia à parte sou bom mesmo, estudei tanto na faculdade como no bar. E quase sempre a escolhida nesse critério era a catuaba. O meu copo de plástico tava vazio, ao menos de catuaba, água tinha aos montes. Me separei do grupo para ir atrás de alguém que vendesse, camelô, bar, quem fosse. O ruim era que a tempestade só piorava, e por incrível que pareça quanto mais forte a chuva batia em mim, encharcando meus cabelos, minhas roupas, o resto da fantasia, mais sede aquilo me dava. Foda que todos os vendedores pareciam ter sumido. Pô, sei que o tempo tava ruim, mas sempre tem cliente. Ninguém vai crescer na vida trabalhando assim, caralho.
– (…)
– A Júlia, sim, a Júlia. Desculpa. Tenho esse problema de me perder nas histórias. Digressão, meu professor do cursinho chamava. Voltando ao carnaval. Começou a passar pela minha cabeça a possibilidade de desistir, largar mão, pegar o metrô ou Uber que fosse naquele toró. Voltar pra casa do meu brother, foda-se. Sem beber fica difícil. Até que eu vejo uma menina dançando sozinha no meio da avenida, com uma garrafa cheinha e resplandecente de catuaba aos seus pés. Parecia estar em seu próprio sistema solar. Nem tinha mais música tocando por perto, os trios já tavam desligados, mas isso não aparentava ser problema.
– (…)
– Sim, era ela, Júlia, claro. Como você sabe?
– (…)
– É, acho que seria óbvio para quem a conhece. Fui em sua direção. Ela olhou pra mim, levantou a garrafa e um outro copo que tirou não sei de onde e me disse algo. Deve ter perguntado se eu aceitava brindar com ela, tava difícil de ouvir com o dilúvio e tanta correria. Ela deve ter percebido que eu não tinha entendido, pois ofereceu o copo de novo, agora sorrindo. Ainda bem que foi ela quem ofertou. A verdade é que eu tava tímido.
– (…)
– Juro. Já fiz muita coisa na vida, mas aquela figura exótica me intimidou. Não sabia se era doida, dançando daquele jeito, levantando os braços toda descoordenada enquanto todo mundo passava olhando estranho. Tenho um pouco de medo de gente louca, não me leve a mal, é só que aqui em São Paulo é cheio deles e tem horas que você dá brecha para um e o sujeito, ou sujeita, tem de todos os tipos e gêneros, não te larga mais.
– (…)
– Aceitei, é claro. Como poderia recusar com um sorriso daqueles? Ela já dançava com os dois copos pra cima, o meu e o dela, bem esquisitinha, e eu fui chegando perto. Antes que pudesse pegar um dos copos ela veio em minha direção e me beijou, não disse nada, só beijou mesmo, e foi um beijo melhor do que qualquer outro que eu tivesse dado ou recebido naquele carnaval.
– (…)
– Nem dissemos mais nada. Naquela altura não sabia ainda qual era seu nome. Depois me dei conta de que não tinha beijado antes na vida uma Júlia. Se sim, nenhuma daquele modo. Seu hálito tinha algo diferente. Aquele gosto certamente não era catuaba, e aliás não me lembrava de nada que conhecesse. Depois do que pareceu pouco tempo mas ela mais tarde me garantiu ter sido muito, ela se afastou, só um pouco, só o suficiente para a gente trocar mais do que algumas palavras mal formuladas. Me perguntou se eu queria um copo. Estava sedento, com a garganta já em erupção, e desejando mais álcool. Implorei que sim, que ela me desse um pouco do que a deixava daquele jeito. Quer saber o que tinha na garrafa?
– (…)
– Água da chuva com açúcar e corante.
– (…)
– Eu sorri. Depois, é claro, pegamos um Uber. Pro apê do meu brother. Disse que isso foi na segunda-feira, né? Pois bem. Passou a terça, passou a quarta-feira de cinzas, não vi nada. Ficamos até a manhã da sexta só trepando. Nem saí pra rua nos dias seguintes, só saía mesmo era do quarto pra tomar água da torneira, meu corpo de vez em quando ficava desidratado. Também pra uns banhos de madrugada e pruns lanches furtivos, é claro. Trazia pro quarto sanduíches pra comer com a Júlia, os dois pelados. A gente tirava um cochilo de meia-hora só pra digestão, então continuava. Meus amigos me enchiam o saco, me chamavam pra sair, até começaram a batucar uns sambas na porta enquanto a gente trepava. Eu caguei pra eles.
– (…)
– Já tava mais do que apaixonado quando ela sumiu na sexta. Fui tomar banho e só encontrei na cama, a mesma cama do quarto de visitas do meu brother onde tava fazia dias suando e trepando, um bilhete dela, se despedindo. Mencionava algo sobre resolver uma velha dívida que tinha que resolver. Depois agradecia, deixava um beijinho, e tchau. Sem número, sem Facebook, sem nada. Eu não tinha pedido nada disso antes a ela porque nunca achei que iria sumir assim.
– (…)
– E vejo que você infelizmente não vai ser capaz de me ajudar. Pois está tão ciente do paradeiro dela quanto eu. Ou seja, nada.
– (…)
– Bom. Vou nessa. Foi bom relembrar, de qualquer jeito. Se você a encontrar por aí, nesse carnaval ou depois, manda um beijo? Avisa que o bilhete tá guardado.
Entrevistado Nº 4:
Carla Callado,
52 anos, graduação incompleta em Geografia pela USP, ex-dona de casa, atual dona do Sebo do Mandarim.
22 de março de 2017,
Guarujá-SP.
Entrevista realizada no café do Sebo do Mandarim, Centro.
18h12.
[Carla me recebeu em seu sebo com grande simpatia. Pediu para eu esperar o último cliente sair antes de fechar as portas e conversar a sós. Tinha pintado as unhas de cinza. Enquanto fazia um café na prensa francesa para nós dois, disse que sentia falta dos cinco gatos que povoaram o sebo durante anos. “Companhias mais frequentes e infinitamente mais aprazíveis que as humanas, meu filho”. Ao longo dos anos, todos morreram. Carla decidiu que não adotaria novos pois os espíritos dos cinco ainda caminhavam ali, pouco dispostos, segundo ela, a aceitar cria nova no lugar.]
– (…)
– Sim, ela esteve por aqui. Mas já foi. Qual a sua relação com ela?
– (…)
– Entendo. Não imaginava. O que você quer saber dela, mesmo?
– (…)
– Ah…foi rápida. Júlia me disse que nunca tinha vindo no Guarujá. E que tinha me descoberto por causa do meu cartão. Digo, descoberto o sebo. O cartão, claro, sendo o cartão do sebo. Ela disse que o achou na capital, durante o carnaval, dentro de uma garrafa de catuaba vazia largada no chão. Apareceu aqui, sorriso de um canto ao outro da boca, enquanto segurava o cartão do sebo com as duas mãos.
– (…)
– Ela notou que o meu cartão não deixava claro que o estabelecimento se tratava de um sebo. Notou também que não tinha número de telefone. Faz seis anos que não tenho um aparelho, celular nunca nem encostei. Vivo na pré-história, dizem. Também não coloquei no cartão imagens de livros. É todo em branco só com meu nome e o endereço.
– (…)
– Porque se ler é um ato de pura curiosidade, somente um sebo poderia se anular assim em sua divulgação e ainda esperar visitas, não? Júlia entendeu. E me visitou. Gastou umas três horas fuçando as estantes, mas não parou para esmiuçar cada volume. Observei-a discretamente durante esse tempo, gosto de entender os gostos dos meu clientes. Dos clássicos ela só viu as lombadas. Dos contemporâneos, em especial os brasileiros, idem…foi no entanto a única pessoa que vi até hoje gastar o tempo que gastou com os mexicanos. Rulfo, Yáñes, Fuentes, Reyes e Paz, claro, o imenso Paz. Bolaño também, apesar de não ser mexicano de nascença. Esse também ficou muito famoso, mesmo quem não sabe o que tá lendo lê e depois diz que gostou, que entendeu.
– (…)
– Ela ficou radiante de eu ter uma prateleira só para eles. Parece que dividimos, eu e ela, esse amor. Quando perguntei se ela tinha estudado no México, feito alguma viagem de estudos, quem sabe ganhado uma bolsa, ela disse que não, nunca tinha pisado no país, e justamente por isso lia tanto seus autores. Para sentir pelas descrições de quem cresceu naquela terra o cheiro de Yucatán, senti-lo melhor do que alguém que lá tenha ido sem o ouvido mexicano, o olhar mexicano, o nariz mexicano. Enquanto dizia essas palavras, ela arregalava os olhos, marcando com um levantar das sobrancelhas cada sílaba, me-xi-ca-no. Depois desse tempo todo, optou por levar somente um volume de poetas campesinos dos anos 30 ao 50 que jamais foram traduzidos para o português. Nem barganhou o preço. Disse que o resto já tinha ou tinha lido, mas esse ela nunca tinha visto. Então me perguntou se eu faria o favor de acompanhá-la à praia. Fazia muitos anos que não via o mar, me disse, e não queria estar sozinha no reencontro.
– (…)
– Pegamos um táxi e fomos à praia do Tombo. O sol estava prestes a se pôr. Sempre achei uma pena que aqui no Atlântico não possamos vê-lo entrando na água. Pensei em sentar num bar, pedir uma cerveja. Mas Júlia queria ficar com os pés na areia. Mais tarde poderíamos beber quanto quiséssemos, disse. Ficamos as duas em pé, naquela faixa onde a água molha a areia em seus vais-e-vens. Perguntei se ela não queria de fato adentrar no mar, molhar os joelhos, a saia, a blusa, não me parecia que ela tivesse vindo com roupa de banho ou que sequer usasse um biquíni por baixo. Júlia me respondeu enfaticamente que não. Disse que o local perfeito era ali onde estávamos, onde cada vinda do mar trazia limpeza e cada volta carregava a sujeira, nos deixando com água em volta dos pés só o suficiente para que não nos perdêssemos na imensidão do oceano.
– (…)
– Pior que depois daquele entardecer passei a achar que, assim como Júlia, fazia muito tempo que eu não via o mar, apesar de todo dia passar em frente à praia.
– (…)
– …
– (…)
– O que eu entendo dela? Entendo que ela está em busca de algo.
– (…)
– Não saberia dizer. Naquele mesmo dia, mais tarde, ela me disse que sonha em escrever um livro. Alguns não têm uma vida marcante, mas assim a tornam quando a põem no papel. Talvez Júlia precise apenas registrar as coisas como foram, sem tirar nem pôr, para ter o seu romance.
Entrevistado Nº 5:
Roberto Nigri,
71 anos, formação técnica em Usinagem, é fazendeiro há 42 anos.
13 de maio de 2017,
Território pertencente ao munícipio de Vera Cruz-SP.
Entrevista realizada na varanda da casa da Fazenda Nova Alsácia, de propriedade da família Nigri.
09h30.
[Roberto trouxe café para os dois num bule de ferro fundido que herdou dos pais. Fala manso, a sua autoridade não vem de grossura na voz. No período de cerca de trinta minutos que durou a entrevista, ele acendeu dois cigarros palheiros, tendo me ofertado um deles. Agradeci e recusei, apesar de estar sem os meus Dunhill vermelhos. Quase não travamos contato visual. Ambos preferiram observar pontos indistintos no horizonte nublado.]
– (…)
– Isso foi tudo que deu para saber da Júlia? Se for, melhor desistir de vez dessa busca.
– (…)
– Ah, sim. É possível, filho. Melhor seguir seu instinto, antes isso que largar mão.
– (…)
– Sabe o que é pior? Toda essa história, esse desaparecimento, eu fico incomodado, um pouco preocupado, até mesmo surpreso, mas não deveria.
– (…)
– Ela mudou tanto, desde a viagem a Santiago junto à mãe. Foi em um desses anos todos que você tava sumido, não ligava, não aparecia. Pensando bem, devo ter criado mal meus filhos. Primeiro você. Aparecia a cada dois meses no início. Pouco depois, a cada semestre, então a cada ano. Por fim, nos abandonou de vez. Tantos anos sem dar sinal de vida, cheguei a pensar que tivesse morrido. Agora a outra…
– (…)
– Entenda, a sua irmã nunca tinha estado muito longe daqui. Vera Cruz, Garça, no máximo Marília. Passarinho que não voa longe. Você de vez em quando, lembro bem, dava suas voltas por aí. Já eu e sua mãe viajamos muito nos nossos dias. Da capital pro interior, então de volta, por outro caminho. Pro Nordeste, até Fortaleza. Pra Argentina, nos pampas. Pantanal. Tudo de carro. Sem tanto dinheiro, mas com disposição. Sua mãe falava bem o castelhano, você talvez se lembre. Nos ajudou muito. Só mais tarde foi que nos assentamos por aqui. Mesmo quando estava sozinho e conheci a mãe de Júlia, naquele mês de outubro, ela nem pensou noutro plano. Veio para cá com tudo que ainda tinha e ficou até o fim.
– (…)
– Sim, mas hoje essa terra que você vê é a minha vida. Não sinto mais vontade de sair para a cidade. Só quando preciso ver algo urgente no mercado, resolver um problema na caminhonete, isso quando não tem funcionário para fazer isso. Sua mãe também tinha criado essas raízes antes de adoecer. Mal queria sair. Ela, que adorava ir ao cinema, nem disso fazia mais questão. Hum. No início achei estranho. Não sabia se a gente estava com problema na cabeça, filho. Essas coisas chegam assim e te pegam sem aviso. Os anos foram passando, você nasceu, cresceu e foi embora. Quando achei que finalmente ia ficar sozinho, só eu e as vacas, veio minha segunda mulher e, por causa dela, sua irmã. Entendi que é assim mesmo. A gente se apega à terra. É dela que nossa família passou a tirar nossa vida. Você nasceu da terra, filho, e a tem no sangue, mesmo que tenha se esquecido, mesmo que tenha se afastado. Sua irmã sabia bem disso. Vivia no meio dos animais, olhando para o mato, até ficava com vergonha quando alguém vinha tomar um café. Igual a bicho. Mas bicho esperto. Pois a única coisa que pedia de fora era livro. O dono da livraria lá na cidade já sabia e ligava para a mãe dela toda vez que achava que tinha chegado algo novo.
– (…)
– Lembro de quando a vida dela era o tal bruxinho. Há…ela não queria saber de outra coisa. Quando chegava um livro novo, era um mês com o livro a tiracolo. A mãe dela perguntava se ela já não tinha lido. Ela respondia que sim, mas só três vezes. Um dia, creio ela tinha uns quinze. Disse que faria uma surpresa à noite, e que a gente passasse o dia onde fosse, mas longe da casa. Ela chamou aquela amiga da cidade, a Raquel, que passava as férias inteiras aqui na fazenda, para ajudar. Quando voltamos, já com a lua cheia no céu, ela foi esperta e marcou aquilo para uma noite daquelas, encontramos a nossa casa transformada num castelo de bruxas. Nos obrigou a pôr na cabeça uns chapéus pontudos e a vestir roupas engraçadas que fez com papel barato. Aí disse, toda séria, que a nossa nossa sala de jantar era agora o Salão Comunal. Sobre a mesa, várias comidas que elas mesmas fizeram, eu mesmo nunca tinha visto nada parecido, nem sei como elas arranjaram os ingredientes por aqui perto. Uns doces diferentes, também, depois da janta. Coloridos. Deve ter dado muito trabalho. Eu e as mulheres com quem vivi nunca fomos muito de Cristo, você sabe, é até um alívio ficar meio que longe de tudo porque assim não esperam que eu apareça na igreja aos domingos. Se a sua avó estivesse viva para ver aquilo…
– (…)
– Umas fitas pretas caindo por toda parte. A Júlia até colocou uns morcegos dentro das panelas para enfeitar. Minha mãezinha, Deus a tenha, ia sair benzendo e correndo para chamar o padre. As coisas mudam, parece.
– (…)
– Pois bem. Depois que ela fez essa recepção para a gente, no tal do Salão Comunal, deve ter gastado ali todo o amor que tinha pelo bruxinho. Tudo que a mãe dela trouxe dali para frente ela não queria mais, até durava um, dois dias com o livro debaixo do braço, como sempre gostou de fazer, mas depois largava. Achei que tivesse passado o interesse dela pelos livros, vai saber, talvez estivesse apaixonada, o amor tem esse efeito com a gente, nos faz largar nossos hábitos mais vivos. Eu e a mãe estranhamos, claro.
– (…)
– O dono da livraria tinha até parado de avisar das novidades. Um dia, estávamos os três tomando sopa de cebola, receita de sua avó materna, era uma noite de julho. A Júlia perguntou o que tinha em casa de poesia. Eu até gosto, mas sempre fui de absorver na voz dos outros, jamais com os próprios olhos. A mãe disse que jovem tinha lido alguns clássicos, Bilac, Drummond, Bandeira, mas só. Não lia nada fazia tempo. Nem sabia o que tinha guardado ou não, era capaz de tudo ter ficado pelos armários das pensões em que morou com vinte e poucos anos. No dia seguinte, se lembrou do baú onde guardava toda as coisas em que não tinha mais interesse mas era incapaz de jogar fora. Todo mundo tem um pouco disso. No meio das fotos e roupas antigas, lá estava um volume de Cora Coralina. Tinha uns quarenta e cinco anos de idade. A mãe dela leu mocinha e sempre o guardou pelas memórias que vinham quando sentia o cheiro das páginas. A Júlia agradeceu, educada, e se trancou no quarto com o velho volume. Tinha algum tempo já que a gente não via ela fazer isso. Hoje é óbvio para mim que tudo começou ali. Logo doou o que tinha de livro para a Raquel, que depois pouco vi aqui em casa, e em duas semanas já tinha adquirido tudo em matéria de poesia que a livraria da cidade vendia. Começou a escrever os próprios. Uns sonetinhos bem bestas, ela mesma dizia. A mãe também achava, mas gostávamos de conhecer suas palavras, ouvir sua voz. Ela vinha, parecendo um animal tímido, e pedia para eu e a mãe sermos sua plateia. Toda manhã ela lia o que tinha escrito na noite anterior. Eu até queria que ela saísse mais, conhecesse o mundo, já tinha uns dezoito anos, porém ela não queria, sua vida parecia estar contida naqueles livros. Nós dois éramos seus únicos ouvintes. Digo ouvintes mesmo, não leitores, porque ela nunca nos deixou ler. Sempre ouvir, só aceitava que ouvíssemos de seus lábios, nos explicando que outras vozes criariam outras intonações que criariam outros poemas que não o dela. De vez em quando entendíamos, mas a maior parte do tempo, não. Claro que não era por isso que deixávamos de sorrir e parabenizar ao fim de cada leitura. Não sabia o que Júlia tinha, meu filho, mas aquilo mexia com ela o suficiente para mexer conosco também.
– (…)
– Pouco depois que ela fez dezenove, começou a obsessão com Santiago, do Chile. Nunca tinha ido nem a São Paulo, mas resolveu que precisava ir a Santiago. Nem que fosse sozinha. Eu fui absolutamente contra, a menina mal sabia se virar. A mãe também pensou assim. A Júlia brigava, tentava levantar a voz, mas logo voltava chorando para o quarto. Passava algumas semanas sem tocar no assunto. Então pedia de novo, e tudo se repetia. Eu a amava mais que tudo, odiava ver minha filha assim, mas não tinha escolha. Sua mãe concordava comigo. Ao menos no início. Ela também mudou. Fui notando que esse momento da manhã no qual Júlia vinha com um poema passou aos poucos a ser para ela o mais importante do dia. Ela brilhava de ansiedade enquanto esperava, fechando os olhos para ouvir melhor as palavras. Houve dias em que ela até perdia o apetite. Ao invés de tomar café-da-manhã ia para a varanda com o cigarro em mãos passar uma meia-hora, até que Júlia arrumasse a mesa. Aprendi a não incomodá-la nesses momentos. Uma noite, depois de um pouco de vinho, ela disse, talvez falando para mim, talvez para as paredes, que seu pai lia Neruda para ela quando era adolescente. Que ele lia Neruda toda noite quando ela teve meningite e quase morreu. Que ele tinha feito questão na sua juventude, contra a recomendação de todos os amigos próximos, de ir ao Pacaembu quando Neruda veio discursar junto ao Prestes. A família de sua mãe sempre odiou comunistas e o pai escondeu esse lado durante muitos anos da filha, escondeu tanto que ela mesma já nem se lembrava. As palavras de Júlia, no entanto, foram resgatando isso, pouco a pouco, pouco a pouco. Decidiu no fim que iria junto com a filha para Santiago. Pelo pai que faleceu há tantos anos, e cuja memória ela tinha enterrado profundamente. Ir a Santiago, ela dizia, seria o reencontro que ele merecia. Passaram duas semanas direto na cidade, nem quiseram ver o deserto. Minha filha voltou outra. Não permaneceu nem mais um mês na fazenda. Assim que chegou, ficou duas semanas de cama, não sei se mal do corpo ou da cabeça, talvez dos dois. Melhorando, só conseguia andar de um lado para o outro, de um lado para o outro, até começou a fumar. Um dia, eu e sua mãe estávamos na cidade. Voltamos e ela tinha sumido. Apenas uma folha de caderno em cima de sua escrivaninha. Deixou quase tudo de poesia no quarto, tá lá intacto até agora. Nem quisemos mexer muito. A mãe adoeceu. Foi quando fui atrás de você. Não soube como lidar sozinho, via minha mulher de cama, tão diferente, ela também voltou outra do Chile, de tão pesada que era voltou leve, leve até o leito de morte. Deus a tenha, odeio falar sobre isso. Até me altero. Porque Júlia não estava presente, porque ela não quis voltar, nem sequer para o enterro da mãe?
– (…)
– Todo dia rezo pelas duas. Rezo, filho, eu, que nunca fui de Cristo, rezo porque é só o que tenho. Eu que nunca fui religioso, não tenho as palavras da minha filha, nem as lembranças da minha mulher. Ela que passou também a ler Neruda todo dia até morrer, morreu cantando baixinho umas palavras desencontradas, que falavam de Machu Picchu, da América, de Machu Picchu. Nunca entendi aquilo, mas ela entendia. Sem ter nada, passei a rezar, e agora rezo, filho.
– (…)
– Rezo para que Júlia encontre o que procura. Rezo para que volte, tendo encontrado. Rezo para que volte com o livro, o livro que ela menciona na página miserável de caderno que nos deixou. Rezo para que em sua voz eu ouça um último poema, na dedicatória do livro que ela nos abandonou para escrever.
—
[conto finalizado em agosto de 2017]
A Saga de Sal – Parte 3
-E o que trouxe você aqui? – é o baixo quem pergunta; o tom é árido. Sal tosse, seu olhar perdido no palco:
-Ela.
-Oi?
Sal aponta com o pescoço. No palco, a baixista, sentada num banco alto, gira o instrumento no espigão deixando entrever o espaço entre sua saia. O baixo pousa aninhado entre seus joelhos, o recorte em F do seu tampo cobrindo o outro recorte. Sal consegue balbuciar:
-Que cê acha?
O alto ri com o nariz e espera receber o olhar de Sal:
-Ele não é dessas coisas
-Oi?
-O Mika.
-Hem?
-Gay
-Ah..
A corda retesada vibra em silêncio sob dedos hábeis. Talvez alguma peça de John Cage.
-Gosto daqui. Não me distrai. – Mika encerra, como um cacto.
L. “Hhhhm. Entendo. E você está pensando em algo específico?”. Sal tenta pôr a cabeça em ordem, trabalhar no seu plano no meio de toda a algazarra alcoólica que já virou a sua noite. Como sempre. A sua ex-namorada tinha razão.
“Sim. Estou pensando em você.”
Por via das dúvidas, Sal encosta a bunda no fundo do sofá e põe a mão sobre a própria braguilha. Não quer ser apalpado de surpresa, e tampouco deseja que compreendam mal o volume intumescido ali sob a calça. Ainda longe de encerrar sua performance arterótica, a baixista tinha acabado de tirar do entrevão das pernas um dedo solitário mas encharcado. Ela o exibe em riste para toda a plateia e por fim executa uma rápida sequência de ligatos em diminuta – com o mesmo dedo. Tanto sangue fluiu à virilha para segurar a ereção que Sal passa a ficar em dúvida se sua confusão mental é mesmo pela tequila ou por falta de oxigenação, ou ambos.
“Hm. Saquei. Está me achando bonito, ou algo assim?”
“Não. Você também não faz meu tipo. Sujo demais, e parece ter mau hálito.”
Sal limpa a garganta enquanto procura com a mão esquerda o fiel spray de mel com própolis num dos bolsos de sua calça cargo; a mão direita firme como um cão de guarda sobre a calça.
“Que pena. Então sob qual aspecto exatamente eu estou na sua cabeça? ahnn…Mika.”
O truqueiro baixo estende seu corpo sobre a mesa, em sua direção. Sal, hesitante, acompanha o movimento, crispando os lábios. Mika cochicha em seu ouvido.
“Você chegou a ouvir falar de algum traidor da ordem?”. O coração de Sal dispara. Sua ereção permanece, agora tangida por nervosismo ao invés de tesão.
“Não, claro que não.”
“Nunca?”
“Jamais.”
Mika afasta o corpo e o olha sério, o tão sério quanto é capaz.
“Que pena. Porque tive desde mais cedo a certeza de que você era um dos nossos.”
“Não sou?”, Sal responde com a voz mais fina do que gostaria.
“Um dos dissidentes, digo. Que irão trazer a nova era.”
John Barth – Perdido na Casa de Diversões
[Tradução livre do conto Lost in the Funhouse, de John Barth, por Lealdo Andrade]
Para quem a casa de diversões é divertida? Talvez para os amantes. Para Ambrose ela é um lugar de medo e confusão. Ele veio ao litoral com sua família para o feriado, a ocasião de sua visita é o Dia da Independência, o feriado secular mais importante dos Estados Unidos da América. Um sublinhado simples é a marca em manuscritos para o tipo itálico, que por sua vez é o equivalente impresso à ênfase oral em palavras e frases assim como o tipo habitual para títulos de obras completas, vale dizer. O itálico é também utilizado, especialmente em histórias de ficção, para vozes “externas”, intrusas ou artificiais, tais como anúncios de rádio, textos de telegramas e artigos de jornais, et cetera. Ele deveria ser utilizado com parcimônia. Se passagens originalmente em tipo romano são italicizadas por alguém que as copia, é usual que se reconheça o fato. Itálico meu.
Ambrose estava naquela “idade embaraçosa”. Sua voz saía aguda como a de uma criança se ele se deixava levar; para ficar seguro, portanto, ele se movia e falava com calma deliberada e gravidade adulta. Falar sobriamente de assuntos desimportantes ou irrelevantes e escutar conscientemente o som da sua própria voz são hábitos úteis para manter o controle nessa fase difícil. En route para Ocean City ele estava sentado no banco traseiro do carro da família com seu irmão Peter, quinze anos, e Magda G_____, quatorze anos, uma jovem bonita e delicada, que vivia não longe deles na Rua B_____, Maryland. Iniciais, lacunas ou ambos eram substitutos frequentes para nomes próprios na ficção do século dezenove para realçar a ilusão de realidade. É como se o autor achasse necessário apagar os nomes por razões de tato ou responsabilidade legal. Interessantemente, assim como para outros aspectos do realismo, era uma ilusão que estava sendo realçada, por meios puramente artificiais. É provável, quebra o princípio da verossimilhança, que um garoto de treze anos possa fazer tal observação sofisticada? Uma garota de quatorze anos é a contemporânea psicológica de um garoto de quinze ou dezesseis; um garoto de treze anos, portanto, mesmo um precoce em outros aspectos, pode ser em comparação até três anos mais jovem emocionalmente.
Três vezes por ano — nos Dias do Memorial, da Independência e do Trabalho — a família visita Ocean City durante tarde e noite. Quando o pai de Ambrose e Peter tinha a idade deles, a excursão era feita por trem, como se menciona no romance Paralelo 42 de John dos Passos. Muitas famílias da mesma vizinhança costumavam viajar juntas, com parentes dependentes e frequentemente com criados negros; escolas inteiras de crianças enxameavam através dos vagões do trem; todos compartilhavam com todos frango frito de Maryland, presunto da Virginia, ovos recheados, salada de batata, biscoitos batidos, chá gelado. Hoje em dia (isto é, em 19__, o ano de nossa história) a viagem é feita por automóvel — mais confortável e rápido apesar que sem a diversão extra apesar que sem a camaraderie de uma excursão em grupo. É tudo parte da deterioração da vida americana, o pai deles diz; Tio Karl supõe que quando os rapazes levarem as suas famílias para Ocean City no feriado eles voarão em girocópteros. A mãe deles, sentada no meio do banco dianteiro que nem Magda no traseiro, só que com os seus braços no encosto atrás dos ombros dos homens, não gostaria que os bons e velhos tempos voltassem, os trens a vapor e os vestidos longos e abafados; por outro lado ela dispensa os girocópteros, também, se tiver que esperar ser avó para andar em um deles.
A descrição de aparências físicas e maneirismos é um dentre vários métodos habituais de caracterização utilizados por escritores de ficção. É importante também “deixar os sentidos operando”; quando um detalhe de um dos cinco sentidos, digamos, o visual, é “cruzado” com um detalhe de outro, digamos, o auditivo, a imaginação do leitor é orientada à cena, talvez inconscientemente. Esse procedimento pode ser comparado ao modo como cartógrafos e navegantes determinam sua posição por duas ou mais leituras de compassos, num processo conhecido como triangulação. O cabelo castanho nos antebraços da mãe de Ambrose cintilavam no sol como. Apesar de destra, ela levantou o braço esquerdo do encosto para apertar o acendedor de cigarros no painel para o Tio Karl. Quando a conta de vidro na alça brilhava vermelha, o acendedor estava pronto para o uso. O cheiro da fumaça do charuto de Tio Karl fazia alguém lembrar de. A fragrância do oceano batia forte no campo de piquenique onde eles sempre paravam para almoçar, a duas milhas de Ocean City. Ter que pausar por uma hora inteira quase ao som da rebentação era difícil para Peter e Ambrose quando eles eram mais novos; até em suas idades atuais não era fácil impedir a antecipação, estimulada pela espuma salgada, de se tornar impaciência. O autor irlandês James Joyce, em seu romance incomum intitulado Ulysses, agora disponível neste país, utiliza os adjetivos verde-muco e aperta-saco para descrever o mar. Visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo. O pai de Peter e Ambrose, enquanto manobrava seu sedã LaSalle 1936 preto com uma mão, conseguia com a outra remover o primeiro cigarro de um pacote branco de Lucky Strikes e, mais marcantemente, acendê-lo com um fósforo levantado com o indicador e pressionado contra a lixa com o polegar sem que tivesse precisado removê-lo da caixa. O rótulo da caixa meramente anunciava Selos e Títulos de Guerra dos EUA. Numa boa metáfora, comparação ou outra figura de linguagem, em adição à óbvia relevância “de primeira ordem” da coisa que descreve, notará-se apos reflexão que há uma segunda ordem de significância: esta pode ser extraída do milieu da ação, por exemplo, ou pode ser particularmente apropriada à sensibilidade do narrador, até mesmo indicando ao leitor coisas de que o narrador é ignorante; ou pode lançar luzes mais extensas e sutis sobre a coisa que descreve, às vezes qualificando ironicamente o sentido mais evidente da comparação.
Falar que a mãe de Ambrose e Peter era bonita não diz nada; o leitor pode admitir a proposição, mas sua imaginação não é seduzida. Além disso, Magda também era bonita, apesar de num modo inteiramente diferente. Mesmo morando na rua B_____ ela tinha ótimos modos e ia melhor que a média na escola. Seu físico era muito bem desenvolvido para a sua idade. A sua mão direita repousava casualmente no estofado do banco, muito próxima da perna esquerda de Ambrose, onde a mão dele descansava. O espaço entre as pernas deles, entre a direita dela e a esquerda dele, estava fora do campo visual de quem estivesse do outro lado de Magda, assim como para quem olhasse pelo retrovisor. O rosto de Tio Karl lembrava o de Peter — na verdade, o contrário. Ambos tinham olhos e cabelos escuros, estaturas baixas e robustas, vozes graves. A mão esquerda de Magda estava provavelmente em posição similar ao seu lado esquerdo. O pai dos rapazes é difícil de descrever; nenhum traço particular de sua aparência ou modo se destacava. Ele usava óculos e era o diretor de uma escola primária no condado de T_____. Tio Karl trabalhava com construção.
Apesar de que Peter devia saber tão bem quanto Ambrose que este, por causa de sua posição no carro, seria o primeiro a ver as torres de transmissão da usina em V_____, o ponto intermediário de sua viagem, ele se inclinou para frente e ligeiramente em direção ao centro do carro e fingiu procurá-las dentre os pinhais e riachos ao ao longo da estrada. Por tanto tempo quanto os rapazes eram capazes de se lembrar, “procurar pelas Torres” havia sido uma parte essencial da primeira metade da excursão a Ocean City, “procurar pelo hidrante”, uma da segunda. Mesmo que a brincadeira fosse infantil, a mãe deles preservava a tradição de recompensar o primeiro que visse as Torres com um doce ou pedaço de fruta. Ela agora insistiu que Magda participasse; o prêmio, disse, era “algo difícil de se conseguir hoje em dia”. Ambrose decidiu não participar; ele se reclinou no seu banco. Magda, assim como Peter, se inclinou para frente. Dois conjuntos de alças eram discerníveis através dos ombros de seu vestido de verão; a da direita, uma alça de sutiã, estava presa ou encurtada com um pequeno alfinete de segurança. Na região de sua axila direita seu vestido, assim como presumivelmente na região da esquerda, estava úmido de suor. A estratégia simples para ser o primeiro a espiar as Torres, que Ambrose já havia entendido aos quatro anos, era se sentar do lado direito do carro. Quem sentasse ali, contudo, precisava aguentar a pior parte do sol, e portanto Ambrose, sem tocar no assunto, às vezes escolhia um lado e às vezes o outro. Não era impossível que Peter nunca tivesse sacado o truque, ou, já que Ambrose vez ou outra preferia sombra a chocolate ou tangerina, pensado o mesmo de seu irmão.
O dilema do sol ou sombra não se aplicava ao banco dianteiro, devido ao pára-brisa; de fato, o motorista devia pegar mais sol, já que quem estivesse do lado do passageiro não somente tinha a proteção da porta e do painel do carro como ainda podia abaixar completamente o quebra-sol.
“São elas?”, perguntou Madgda. A mãe de Ambrose provocou os rapazes por terem deixado Magda ganhar, insinuando que “alguém [tinha] uma namoradinha”. O pai de Peter e Ambrose esticou um braço longo e fino em frente à mãe deles para apagar seu cigarro no cinzeiro do panel, abaixo do acendedor. O prêmio dessa vez por ver primeiro as Torres foi uma banana. A mãe deles a concedeu após repreender o pai deles por desperdiçar um cigarro fumado pela metade, enquanto tudo era tão escasso. Magda, para receber o prêmio, levou a sua mão tão próxima à de Ambrose que ele poderia tê-la tocado como se fosse um acidente. Ela ofereceu dividir o prêmio, coisas como aquela eram tão difíceis de se encontrar; mas todo mundo insistiu que este pertencia apenas a ela. A mãe de Ambrose cantou um dístico em trímetro iâmbico de uma canção popular, com rimas femininas:
“Os bons estão na guerra;
Sobrou o que não presta”
Tio Karl bateu as cinzas de seu charuto para fora no quebra-vento; algumas partículas foram sugadas pela corrente de ar de volta ao carro através da janela traseira do lado do passageiro. Magda demonstrou a sua habilidade de segurar a banana em uma mão enquanto a descasca com os dentes. Ela ainda estava inclinada para frente; Ambrose ergueu seus óculos de volta ao topo do nariz com a sua mão esquerda, que ele então negligentemente deixou cair no estofado do banco imediatamente atrás dela. Ele deixou até que o único pelo, loiro, da segunda falange de seu polegar roçasse o tecido do vestido dela. Se ela se sentasse para trás naquele instante, a sua mão ficaria presa sob ela.
O estofado de pelúcia formiga desconfortavelmente através das calças de gabardina no sol de julho. A função do princípio de uma história é introduzir os personagens principais, estabelecer as suas relações iniciais, preparar a cena para a ação principal, expôr o pano de fundo da situação se necessário, plantar motivos e presságios onde for apropriado, e iniciar o primeiro conflito ou seja lá o que for da “ação crescente”. De fato, se alguém imagina um conto chamado “A Casa de Diversões”, ou “Perdido na Casa de Diversões”, os detalhes da viagem para Ocean City não parecem especialmente relevantes. O princípio deveria recapitular os eventos entre a primeira vez em que Ambrose visse a casa de diversões no início da tarde e a sua entrada nela junto a Magda e Peter à noite. O meio narraria todos os eventos relevantes do momento em que ele entra até quando se perde; meios têm a função dupla e contraditória de atrasar o clímax ao mesmo tempo que preparam o leitor para ele e o levam a ele. Então o fim relataria o que Ambrose faz enquanto está perdido, como ele finamente encontra a saída e o que todo mundo tira da experiência. Até agora não teve diálogo de verdade, muito pouco detalhe sensorial e nada que lembre um tema. E um tempo longo já se passou sem que nada tenha acontecido; isso faz alguém se perguntar. Nós nem chegamos ainda a Ocean City: nós nunca sairemos da casa de diversões.
Quanto mais de perto um autor se identificar com o narrador, literal ou metaforicamente, menos recomendável é, como regra, que se faça a narrativa em primeira pessoa. Uma vez, faz três anos, os jovens supracitados jogaram Pretos e Senhores no quintal; quando foi a vez de Ambrose de ser Senhor e a deles de ser Pretos Peter teve que sair para fazer suas entregas noturnas de jornal; Ambrose ficou com medo de punir somente Magda, mas ela o levou à Câmara de Tortura caiada que ficava entre a cabana para depósito de lenha e a latrina; lá, suando ela se ajoelhou entre ancinhos de bambu e jarros empoeirados, abraçou suplicante os joelhos dele, e, enquanto abelhas zumbiam às grades como se fosse uma tarde comum de verão, comprou clemência por um preço surpreendente definido por ela mesma. Sem dúvida ela não se recordava de nada desse evento; Ambrose por outro lado parecia incapaz de esquecer um mínimo detalhe de sua vida. Ele até lembrava como, de pé ao lado dele mesmo com uma impersonalidade assombrada no calor fumegante, ficou examinando durante um tempo sem fim uma antiga caixa de charutos na qual Tio Karl guardava cinzéis para trabalho em pedra: abaixo das palavras El Producto, uma senhorita laureada de toga folgada observava o mar de um banco de mármore; ao lado dela, esquecida ou apenas encostada, uma lira de cinco cordas. O queixo dela descansava no dorso da mão direita; a esquerda pendia com negligência do apoio do banco. A metade inferior da cena e da senhorita tinham descascado; as palavras EXAMINADO POR _____ estavam impressas na madeira. Hoje em dia caixas de charuto são feitas de papelão. Ambrose se perguntou o que Magda teria feito, Ambrose imaginou o que Magda faria quando ela se sentasse em sua mão como ele decidiu que ela deveria fazer. Ficar com raiva. Fazer uma piada provocando. Não dar sinal algum. Por um bom tempo ela permaneceu inclinada à frente, brincando de contar bichos com Peter contra Tio Karl e Mamãe e procurando pelo primeiro indício de Ocean City. Quase ao mesmo tempo, o campo para piqueniques e o hidrante de Ocean City se lançaram à nossa vista; um posto de gasolina da Amoco do lado de Mamãe e Tio Karl valeu a eles cinquenta vacas e a vitória; Magda se jogou para trás, batendo a mão direita no braço direito de Mamãe; Ambrose retirou sua mão “num piscar de olhos”.
Nesse ritmo nosso herói, nesse ritmo nosso protagonista permanecerá na casa de diversões para sempre. Narrativas ordinariamente consistem na alternância de dramatização e sumarização. Um sintoma de tensão nervosa, paradoxalmente, é bocejar violenta e repetidamente; nem Peter nem Magda nem Tio Karl nem Mamãe reagiram desse modo. Apesar de não serem mais crianças, Peter e Ambrose ganharam um dólar cada para gastar no calçadão além do próprio dinheiro que já tinham trazido. Magda também, mesmo que tenha protestado dizendo que já tinha o suficiente. A mãe dos rapazes fez uma pequena cena ao distribuir as cédulas; ela fingiu que seus filhos e Magda eram criancinhas e lhes recomendou que não gastassem o valor rápido demais ou em um só lugar. Magda o prometeu com uma risada feliz e, tendo ambas as mãos livres, tomou a cédula com a esquerda. Peter também riu e prometeu em falsete que seria um bom menino. Sua imitação de uma criança não era sagaz. O pai dos rapazes era alto e magro, calvo, de pele clara. Afirmações como essa não são efetivas; o leitor pode até concordar com a proposição, mas. Nós deveríamos estar bem mais longe do que estamos; algo deu errado; pouco desse falatório preliminar parece relevante. No entanto todos começam no mesmo lugar; como pode que a maior parte siga sem dificuldades mas alguns se percam pelo caminho?
“Fiquem longe da parte inferior do calçadão”, Tio Karl rosnou com o canto da boca. A mãe dos rapazes empurrou o ombro dele numa irritação fingida. Eles todos estavam de frente à Gorda May, a Mulher Risonha, que fazia propaganda da casa de diversões. A Gorda May, extraordinária, se balançava mecanicamente, dançava sobre os calcanhares, dava tapas nas próprias coxas enquanto uma risada gravada – exuberante, feminina – saía amplificada de um alto-falante oculto. A coisa cacarejava, bufava, lamentava; tentava em vão tomar fôlego; ria baixinho, suspirava, explodia com ruído de volta à vida. Você não poderia escutá-la sem rir até chorar, não importava como estivesse se sentindo. Papai voltou de uma conversa com a guarda-costeira e comentou que a praia estava contaminada com óleo cru de cargueiros que recentemente foram torpedeados em alto-mar. Manchas de óleo, difíceis de tirar, invadiram o litoral, grudando em banhistas. Vários entravam na água mesmo assim e saíam manchados; outros pagavam para utilizar a piscina pública e iam à praia somente para tomar sol na areia. Nós faríamos isso. Nós faríamos isso. Nós faríamos isso.
Sob o calçadão, rótulos de caixas de fósforo, outras coisas granulosas. Qual é o tema da história? Ambrose está doente. Ele transpira nas passagens escurecidas; maçãs doces, deliciosas de se ver, desapontantes ao comer. Casas de diversão precisam de sanitários masculinos e femininos de tempos em tempos. Outros já tenham talvez vomitado em cantos e corredores; outros talvez já tenham até evacuado onde se podia pisar no escuro. A palavra foder sugere sucção e/ou e/ou flatulência. Pai e Mãe; avós e avôs dos dois lados; bisavós e bisavôs dos quatro lados; et cetera. Considere trinta anos como uma geração; no ano aproximado em que ao Lord Baltimore foi concedido mandato da província de Maryland por Charles I, quinhentas e doze mulheres – Inglesas, Galesas, Bávaras, Suíças – de toda classe e caráter receberam em si os pênis os órgãos intrusos de quinhentos e dozes idênticos homens, em toda espécie de circunstância e posição, para conceber os quinhentos e doze ancestrais dos duzentos e cinquenta e seis ancestrais dos et cetera et cetera et cetera et cetera et cetera et cetera et cetera et cetera do autor, do narrador, dessa história, Perdido na Casa de Diversões. Em becos, valas, camas de dossel, cabanas de madeira, suítes nupciais, cabines de navio, carruagem com cavalos, carruagens com cavalo, oficinas abafadas; nas areias frias sob calçadões, sujas com bitucas de charutos El Producto, prestigiadas com bitucas de Lucky Strike, tampinhas de Coca-Cola, cocôs pedregosos, palitos de pirulitos feitos de papelão, caixas de fósforo cujos rótulos avisam que Abrir o Bico Pode Dar em Castigo. O sussurro empapado, contínuo como o mar que em suas voltas lava o globo, cai e se ergue com o circuito do raiar e do ocaso.
Os dentes de Magda. Ela era canhota. Transpiração. Eles percorreram todo o caminho, Magda e Peter, eles estiveram esperando por horas com Mamãe e com o Tio Karl enquanto Papai procura seu filho perdido; eles pegam batatas fritas de um copo de papel e balançam suas cabeças. Eles deram nome às crianças que um dia terão e trarão a Ocean City nos feriados. Podem espermatozoides ser propriamente entendidos como animálculos quando não existem espermatozoides fêmeas? Eles tateiam por caminhos quentes e escuros, para além dos obstáculos assustadores do Túnel do Amor. Alguns talvez se percam no caminho.
Peter sugeriu aqui e ali que eles fossem à casa de diversões; ele tinha passado por lá antes, assim como Magda, Ambrose não tinha e sugeriu, sua voz quebrando por conta da risada de Tia May, que eles nadassem primeiro. Todos estavam se rindo por dentro, não tinham como lutar contra; o pai de Ambrose, o pai de Ambrose e Peter veio com um sorriso arreganhado e lunático segurando dois pacotes de pipoca coberta de melaço, um para Mamãe, outro para Magda; os garotos que se virassem. Ambrose caminhava à direita de Magda; sendo por natureza canhota, ela carregava o pacote na esquerda. Em frente a situação era o reverso.
“Porque você está mancando?” Magda perguntou para Ambrose. Ele supôs num tom ríspido que seu pé devia ter adormecido no carro. Os dentes dela brilharam. “Pinos e agulhas?” Era a madressilva na grade da latrina aposentada que atraía as abelhas. Imagine ser picado lá. Quanto tempo isso vai demorar?
Os adultos decidiram dispensar a piscina; mas Tio Karl insistiu que pusessem roupa de banho e fossem à praia. “Ele quer ver as moças bonitas”, Peter provocou, e se protegeu atrás de Magda da fúria fingida de Tio Karl. “Você tem todas as garotas bonitas de que precisa bem aqui”, Magda respondeu, e Mamãe disse: “Eis a bendita verdade”. Magda repreendeu Peter, que surrupiava algumas pipocas por cima do ombro dela. “Seu irmão e pai não tão pegando nenhuma”. Tio Karl se perguntou se haveria fogos de artifício naquela noite, já que com os racionamentos. Não era o racionamento, Sr. M_____ respondeu; Ocean City tinha fogos de artifício de antes da guerra. Mas era arriscado demais por conta dos submarinos inimigos, algumas pessoas pensavam.
“Não parece Quatro de Julho sem fogos de artifício”, disse Tio Karl. A inversão de sujeito e verbo na escrita de diálogos é ainda considerada permissível com nomes próprios ou epítetos, mas soa datada com pronomes. “Daqui a pouco vamos ter mais deles de novo”, previu o pai dos meninos. A mãe deles declarou que estava bem sem os fogos: eles lembravam-na demais do negócio de verdade. O pai deles disse que era ainda mais um motivo para soltar uns aqui e ali. Tio Karl perguntou retoricamente quem precisava de lembrança, era só olhar na pele e no cabelo das pessoas.
“O óleo, sim”, disse Sra. M_____.
Ambrose sentia uma dor no abdômen e portanto não nadou mas apreciou assistir aos outros. Ele e seu pai ficavam com a pele queimada facilmente. As formas de Magda eram demasiado bem-desenvolvidas para a sua idade. Ela também se recusou a nadar, e ficou possessa, e raivosa quando Peter tentou arrastá-la para a piscina. Ela sempre nadava, ele insistiu; como assim ela não nadaria? Para que que alguém vinha a Ocean City?
“Talvez eu queira ficar aqui com Ambrose”, Magda provocou.
Ninguém gosta de um pedante.
“Aha”, disse Mamãe. Peter pegou Magda por um tornozelo e mandou Ambrose pegar o outro. Ela gritou e rolou sobre a canga. Ambrose fingiu ajudar a segurar as costas dela. O bronzeado dela era ainda mais escuro que o de Mamãe ou Peter. “Me ajuda, Tio Karl!”, Peter gritou. Tio Karl tomou o outro tornozelo dela. Sob a parte de cima de seu maiô, no entanto, você conseguiu ver a linha onde o bronzeado terminava e, quando ela levantou os ombros e gritou de novo, a borda castanha de uma das auréolas. Mamãe mandou eles se comportarem. “Você deveria saber”, disse para Tio Karl. Solenemente. “Que quando uma senhorita diz que não está a fim de nadar, um cavalheiro não insiste”. Tio Karl pediu para desculpá-lo; Mamãe piscou para Magda; Ambrose ficou corado; Peter, estúpido, ficou repetindo “Sem essa de a fim!” e seguiu puxando o tornozelo de Magda; então até ele entendeu, e pulou como uma bola de canhão, gritando, na piscina.
“Eu juro”, Magda disse, ironizando com irritação fingida.
O mergulho seria um símbolo literário adequado. Para saltar da prancha você precisava esperar numa fila ao longo da borda e escada acima. Os rapazes faziam cócegas nas meninas e provocavam uns aos outros e gritavam para os que estavam no topo para se apressarem, ou os empurravam para quedas de barriga. Uma vez na prancha alguns aproveitavam para passar um bom tempo posando ou fazendo palhaçadas ou escolhendo um salto ou tranquilizando os nervos; outros corriam para o salto de primeira. Especialmente entre os mais jovens a ideia era de fazer a pose mais engraçada ou acrobacia mais louca enquanto você caía, uma coisa que ficava mais difícil à medida que você saltava de novo e de novo. Mas independente de você ter gritado Gerônimo! ou Sieg Heil!, segurado seu nariz ou “pedalado na bicicleta”, fingido ser baleado ou feito um perfeito canivete ou mudado de ideia no meio do caminho e terminado sem nada, tudo se concluía em dois segundos, depois de toda aquela espera. Salto, pose, splash. Salto, nota 10, splash. Salto, ai saco, splash.
Os adultos haviam seguido; Ambrose queria conversar com Magda; ela era notavelmente bem-desenvolvida para a sua idade; dizia-se que aquilo vinha de se esfregar com uma toalha turca, e havia outras teorias. Ambrose não conseguia pensar em nada a dizer exceto o quão Peter era um bom mergulhador, que estava se exibindo para a atenção dela. Você podia dizer observando os seus calções de banho e músculos do braço o quão diferentes os rapazes eram. Ambrose estava aliviado de não ter entrado na piscina, a água gelada lhe encolhe tanto. Magda fingia estar desinteressada nos mergulhos; ela provavelmente pesava tanto quanto ele. Se você conhecesse os caminhos na casa de diversões tão bem quanto no seu quarto, você poderia esperar que uma garota viesse e então se esgueirar para fora com ela sem jamais ser pego, mesmo que o namorado dela estivesse bem ao lado. Ela pensaria que ele que tinha feito aquilo! Teria sido melhor ser o namorado, e fingir estar possesso, e quebrar a casa de diversões em pedaços.
Não fingir; estar.
“Ele é um mergulhador mestre”, disse Ambrose. Em admiração fingida. “Você precisa realmente trabalhar para ficar bom assim”. O que afinal de contas importaria se ele perguntasse a ela de cara se ela se lembrava, se ele mesmo chegasse a provocá-la com aquilo do jeito que Peter teria feito?
Ir mais longe não faz sentido; isso não está fazendo ninguém chegar a lugar algum; eles nem mesmo chegaram ainda à casa de diversões. Ambrose se perdeu na trilha, em alguma região nova ou antiga do lugar que não deveria ser usada; ele se dispersou e caiu nessa região por alguma chance de um-em-um-milhão, como na vez em que o carro da montanha-russa descarrilhou nos anos 10 contra todas as leis da física e mergulhou sobre o calçadão no escuro. E eles não conseguem encontrá-lo porque não sabem onde procurá-lo. Mesmo o arquiteto e o operador terão esquecido essa região à parte, que dá voltas sobre si mesmo como uma concha de caracol. Que dá voltas sobre a região correta como cobras sobre o caduceu de Mercúrio. Algumas pessoas, talvez, não “acertam o passo” até ter vinte e tantos, quando toda essa história de crescer já se encerrou e as mulheres passam a apreciar outras coisas além de piadinhas e provocações e flertes. Peter não tinha nem um décimo da imaginação que ele tinha, nem um décimo. Peter até fazia essa brincadeira de dar-nome-aos-filhos como uma piada, inventando nomes como Aloysius e Murgatroyd, mas Ambrose sabia exatamente como seria estar casado e ter seus próprios filhos, e ser um marido e pai atencioso, e ir confortavelmente ao trabalho nas manhãs e à cama com sua esposa à noite, e acordar lá com ela. Com uma brisa vindo pela vidraça e pássaros e rouxinóis cantando nas catalpas. Seus olhos marejaram, não existem maneiras o suficiente de dizer isso. Ele seria até famoso no seu trabalho. Fosse Magda a sua esposa ou não, numa tarde quando seus cabelos nas têmporas estivessem ralos e grisalhos ele sorriria com gravidade, num jantar elegante, e a lembraria de sua paixão juvenil. Os tempos de quando iam com sua família para Ocean City; as fantasias eróticas que ele costumava ter envolvendo ela. Como isso parece distante no passado, e infantil! Mas carinhoso, também, n’est-ce pas? Teria ela imaginado que o mundialmente famoso qualquer coisa se lembrasse de quantas cordas tinha a lira sobre o banco ao lado da moça no rótulo da caixa de charutos que ele observara naquela cabana aos dez anos enquanto ela tinha onze. Mesmo então ele se sentira mais velho que sua idade; ele acariciara seu cabelo e dissera na voz mais profunda e no inglês mais correto, como se fora para uma criança querida: “Eu jamais esquecerei tal momento”.
Mas apesar de estar ofegando profundamente e gemendo como se estivesse extático, o que ele de fato sentia da cabeça aos pés era um estranho desapego, como se um outro alguém fosse o Senhor. Esforçasse o quanto quisesse para ser transportado, ele escutou sua mente fazendo anotações sobre a cena: Isto é o que eles chamam de paixão. Estou experimentando-a. Muitos dos jogos de garras estavam sem funcionar no fliperama e não haviam podido ainda ser consertados ou substituídos. Além do mais os prêmios, feitos agora nos EUA, estavam menos interessantes que antes, na maioria itens de papelão, e alguns dos jogos não funcionavam com as moedas do período de guerra. A máquina da cigana-vidente talvez tivesse providenciado uma antevisão do clímax dessa história se Ambrose a tivesse operado. Ela estava ainda mais dilapidada que a maioria: o revestimento de prata estava desgastado nas alças marrons de metal, os vidros envolta da manequim estavam estilhaçados e colados com fita, o cachecol e as sedas dela há muito desbotados. Se um homem morasse sozinho, ele poderia pegar uma manequim de loja de departamento com juntas flexíveis e modificá-la em certas regiões. No entanto: quando ele fosse velho assim, ele já teria uma mulher de verdade. Havia uma máquina que estampava o seu nome em volta de uma moeda de metal branco com uma estrela no meio. A_____. Seu garoto seria o segundo dos filhos, e quando o rapaz tivesse chegado aos treze, mais ou menos, ele poria um braço forte sobre o seu ombro e lhe diria calmamente: “É perfeitamente normal. Todos estivemos nessa fase. Não irá durar para sempre.” Ninguém sabia como ser o que eles eram, certo. Ele fumaria um cachimbo, ensinaria o seu filho a pescar peixe e caranguejo, lhe garantiria que não tinha com o que se preocupar. Magda certamente daria, Magda certamente forneceria uma grande quantidade de leite, mesmo culpada de indecoros ocasionais. Ele não teria um gosto ruim. Imagine se as luzes voltassem agora!
O dia ia se desgastando. Você acha que você é você mesmo, mas tem outras pessoas em você. Ambrose fica duro quando Ambrose não quer, e vice-versa. Ambrose os observa entrar em desacordo; Ambrose observa ele observar. No salão dos espelhos da casa de diversões, você não pode ver a si mesmo se repetindo para sempre, porque não importa como você esteja, uma hora sua cabeça entra na frente. Mesmo que você tivesse um periscópio de vidro, a imagem do seu olho cobriria a coisa que você quer realmente ver. A polícia virá; haverá uma história nos jornais. Deve ter sido lá que aconteceu. A não ser que ele encontre uma saída surpresa, uma porta dos fundos não-oficial ou, digamos, uma abertura para uma escotilha num beco-sem-saída, e então marche para a família em frente à casa de diversões e pergunte onde todos estiveram; ele estava fora do lugar fazia séculos. Foi justamente lá que aconteceu, na última sala iluminada: Peter e Magda encontraram a saída correta; ele encontrou uma das que você não deveria encontrar e se desviou para alguma parte em reforma. Numa casa de diversões perfeita você conseguiria seguir somente um caminho, como os mergulhadores saltando da prancha; perder-se seria impossível; as portas e salões funcionariam como armadilhas de peixinhos ou válvulas venosas.
Por conta dos submarinos alemães, Ocean City estava “amarronzada”: as luzes de postes à beira mar estavam atenuadas, vitrines e atrações do calçadão eram mantidas em luz baixa, para não deixar visíveis as silhuetas de tanques e navios cargueiros para os torpedos. Num conto sobre Ocean City, Maryland, durante a 2ª Guerra Mundial, o autor poderia fazer uso da imagem de marinheiros de folga nos fliperamas e galerias de tiro ao alvo, enxergando submarinos suasticados através de miras de metralhadoras de brinquedo, enquanto a partir de um submarino no escuro Atlântico um marinheiro força sua vista através de um periscópio rumo a navios de verdade delineados pelo brilho dos fliperamas. Depois de jantar a família marchava de volta à extremidade repleta de atrações do calçadão. O pai dos meninos estava vermelho do sol como sempre e usava uma máscara de Noxzema, um trovador ao avesso. Os adultos permaneciam na borda do calçadão onde o Furacão de 33 havia cortado um atalho do oceano rumo a Assawoman Bay.
“Pronunciado com um o longo”, Tio Karl lembrava Magda enquanto piscava. As mangas de sua camisa estavam levantadas; Mamãe dava um soco no seu bíceps bronzeado onde havia um coração e uma flecha e dizia que ele tinha uma mente safada. A risada da Gorda May veio repentinamente da casa de diversões, como se ela tivesse acabado de entender a piada; a família também riu com a coincidência. Ambrose fora para baixo do calçadão para procurar por caixas de fósforo cujos rótulos fossem de fora da cidade com a ajuda de sua lanterna de bolso; ele olhou para fora do continente norte-americano e se perguntou o quão longe suas risadas viajavam sobre as águas. Espiões sobre botes de borracha; sobreviventes em botes de resgate. Se a piada fosse além de sua compreensão, ele poderia ter dito: “Ele estava abaixo do nível daquele humor”. E deixar o leitor então perceber o trocadilho sério numa segunda leitura.
Ele ligou a lanterna e então de súbito a desligou mesmo antes de a mulher guinchar. Ele correu para longe, coração aos saltos, deixando a luz cair. O que o homem havia grunhido? Suor seco e já congelado à altura em que voltou a se reunir com a família. “Viu algo?”, o pai perguntou. Sua voz não sairia; ele dava de ombros e espanava com violência a areia de suas calças.
“Vamos montar nos cavalinhos velhos!”, gritou Magda. Eu jamais serei um autor. Já faz uma eternidade que todo mundo foi pra casa, Ocean City está deserta e os fantasmas dos caranguejos estão rastejando pela praia e por entre as ruas repletas de lixo. E pelos salões vazios dos hotéis de madeira e pelas casas de diversão abandonadas. Um maremoto; um assalto aéreo inimigo; um caranguejo-monstro emergindo como uma ilha no mar. Os habitantes fugiram aterrorizados. Magda se prendeu à sua calça; somente ele sabia o segredo do labirinto. “Ele deu a sua vida para que as nossas pudessem seguir”, disse Tio Karl com o rosto contorcido em dor, assim como o corpo. As mãos do sujeito eram tatuadas; as pernas da mulher, as pernas gordas e brancas da mulher eram. Uma coincidência impressionante. Ele desejava contar a Peter. Ele queria vomitar de desejo. Eles nem o haviam seguido. Ele desejava estar morto.
Outro possível fim envolveria Ambrose encontrar outra pessoa perdida no escuro. Eles uniriam suas inteligências contra a casa de diversões, lutando como Ulisses contra obstáculo atrás de obstáculo, ajudando e encorajando um ao outro. Ou uma menina. Pela hora em que encontrassem a saída eles seriam os amigos mais próximos, apaixonados se fosse uma menina; eles conheceriam a alma mais profunda um do outro, estariam ligados pelo cimento da aventura compartilhada; então emergiriam na luz e se descobriria que o amigo era um negro. Uma menina cega. O filho do presidente Roosevelt. O ex-arquiinimigo de Ambrose.
Pouco depois do salão dos espelhos ele tateara por um corredor mofado, o seu coração já falhando na ausência de flechas fosforescentes e outros sinais. Ele encontrara um rasgo de iluminação – não uma porta, mas uma costura entre os painéis de amadeirado – e, observando por entre o rasgo, espiara um velho baixo, indistinto em aparência das fotografias na casa do falecido avô de Ambrose, descansando sobre um banco sob um pobre bulbo solitário de luz. Um painel tosco de interruptores e alavancas estava ao lado da caixa de fusíveis aberta próxima de sua cabeça; noutras partes da sala estavam alavancas de madeira e cordas amarradas em grampos de barcos. Na hora, Ambrose não estava perdido o suficiente para bater ou chamar; mais tarde ele não conseguiria encontrar aquele rasgo. Agora lhe parecia que ele possivelmente cochilara por alguns minutos ao longo do caminho; certamente ele estava exausto do sol da tarde e de todos os problemas da noite; ele não conseguia ter certeza se não havia sonhado com o encontro todo ou em parte. Será que um velho ventilador escuro de parede não havia com seu zumbido de abelha feito oscilar dois papéis mata-mosca? Será que o operador da casa de diversões – gentil, algo triste e de aparência cansada, em expressão indistinta da das fotografias na casa do falecido Tio Konrad – não havia murmurado em seu sono? Existe mesmo uma pessoa como Ambrose, ou ele é uma invenção da imaginação do autor? O que era mesmo, Assawoman Bay ou Sinepuxent? Há outros erros factuais nessa ficção? Houvera outro som além dos tapas da coxa no pernil, como água beijando as madeiras de um esquife?
Quando você está perdido, a coisa mais inteligente a se fazer é ficar parado até você ser encontrado, gritando se necessário. Mas gritar garante tanto a humilhação quanto o resgate; ficar em silêncio lhe salva um pouco da dignidade – você pode fingir surpresa na bagunça quando o resgate lhe encontrar e jurar que você não estava perdido, caso o digam. Além do mais você ainda pode encontrar o seu caminho, ainda que tarde.
“Não me diga que seu pé ainda está dormente!”, exclamou Magda quando os três jovens caminharam da entrada para a área reservada para a roda gigante, carrosséis e outras atrações carnavalescas, eles tendo decidido a favor do vasto e antigo carrossel no lugar da casa de diversões. Que sentença, tudo estava errado desde o início. As pessoas não sabiam o que fazer com ele, ele não sabe o que fazer consigo mesmo, ele tem apenas treze, é atlética e socialmente inepto, não surpreendentemente esperto, mas tem antenas; ele tem…um certo tipo de receptor na cabeça; as coisas falam com ele, ele entende mais do que deveria, o mundo pisca para ele através de seus objetos, aperta sorrindo o seu casaco. Todo o resto das pessoas está por dentro de algum segredo que ele não conhece; esqueceram-se de lhe contar. Através de simples procrastinação a sua mãe adiara o batismo até este ano. Todos os outros o tinham feito enquanto bebês; ele assumira o mesmo para si, assim como a sua mãe, assim ela o dizia, até que chegou o momento de ele fazer parte dos Metodistas e o descuido vir à tona. Ele ficou mortificado, mas avançou sem dormir por seu catequismo privado, intimidado pelos antigos mistérios, um garoto de treze anos jamais falaria assim, determinado a experimentar a conversão como Santo Agostinho. Quando a água tocou sua testa e o pecado de Adão lhe abandonou, ele se contorceu por um esforço como o de defecar para trazer lágrimas aos olhos – porém nada sentiu. Havia alguma diferença simples, radical nele; ele esperou que fosse o gênio, temeu que fosse loucura, dedicou-se à amabilidade e inconspicuidade. Solitário no quebra-mar próximo à sua casa foi dominado pelo arrebatamento terrível que esperava encontrar na cabana de ferramentas, no cálice da Comunhão. A grama estava viva! A cidade, o rio, ele mesmo, não eram imaginários; o tempo rugia em seus ouvidos como o vento; o mundo seguia. Esta parte deve ser dramatizada. O autor irlandês James Joyce uma vez a escreveu. Ambrose M_____ vai gritar.
Não existe textura de descrições de detalhes sensoriais, para começar. Os espelhos desfigurantes e desbotados ao lado da Gorda May; a impossibilidade de escolher uma montaria quando se tinha somente uma chance para andar no grande carrossel; a vertigem aguardando seu reconhecimento de que Ocean City estava desgastada, o lugar de pais e avôs, de homens em canoas de palha e de mulheres sob guarda-sóis sobrevivia por suas atrações. Dinheiro gasto, os três detiveram-se ao lado da Gorda May pela insistência de Peter para ver moças tendo suas saias levantadas pela corrente de vento. O objetivo era de provocar Magda, que disse: “Eu juro, Peter M_____, você tem só uma coisa na cabeça! Amby e eu não estamos interessados nessas coisas.” No barril-balançante, também, logo após a entrada para a casa de diversões na forma da boca de um diabo, as moças eram erguidas e seus namorados e outros poderiam ver por baixo de seus vestidos se eles fizessem questão. O que era o propósito da coisa toda, percebeu Ambrose. De toda a casa de diversões! Se você olhasse em volta, perceberia que todo mundo no calçadão estava dividido em casais exceto as crianças pequenas; de certa forma, era o único propósito de Ocean City! Se você tivesse olhos raio-X e pudesse ver tudo que estava acontecendo abaixo do calçadão e em todos os quartos de hotel e carros e becos, você perceberia que tudo que era normalmente visível, como restaurantes e danceterias e lojas de roupas e máquinas para testar sua força, era mera preparação e intermissão. A Gorda May gritava.
Porque ele enxergava o que acontecia usando o canto do olho, foi Ambrose quem espiou o meio dólar no calçadão próximo do barril. Uma perda chorada. Na primeira vez em que ele ouviu algumas pessoas se moverem por um corredor não muito distante, pouco depois de ele perder de vista o rasgo de luz, ele preferiu não chamá-los, por medo de acharem que ele estava assustado e fazerem troça; soavam como brutos; ele torcia para que viessem em sua direção e ele os seguisse no escuro sem o conhecimento deles. Noutra vez ele ouviu somente uma pessoa, a não ser que a tenha imaginado, batendo pelas paredes como se do outro lado do amadeirado; talvez Peter voltando em busca dele, ou Papai, ou Magda também perdida. Ou o dono e operador da casa de diversões. Ele chamou uma vez, como despreocupado: “Alguém sabe onde diabos estamos?”. Mas a questão saíra demasiado rígida, sua voz quebrara, quando os sons pararam ele estava aterrorizado: talvez fosse uma bicha que esperasse por rapazes que se perderam, ou um monstro sujo e cabeludo que vivia nalguma fenda da casa de diversões. Ele se detivera pelo que pareceram horas, rígido, mal respirando. Seu futuro estava chocantemente claro, bem-traçado. Ele tentou segurar sua respiração ao ponto de inconsciência. Deveria existir um botão que você apertaria para terminar a sua vida absolutamente sem dor; desaparecer num estalo, como ao apagar uma lâmpada. Ele apertaria o botão instantaneamente! Ele desprezava Tio Karl. Mas ele desprezava também o seu pai, por não ser quem ele deveria ser. Talvez seu pai odiasse o pai dele, e assim por diante, e o seu filho o odiaria, e assim por diante. Instantaneamente!
Naturalmente ele não teria brio o suficiente para pedir a Magda que fosse na casa de diversões com ele. Com um incrível brio e para a surpresa de todos ele convidou Magda, calma e polidamente, para ir na casa de diversões com ele. “Eu te aviso, nunca passei por ela antes”, ele adicionou, rindo com leveza; “mas imagino que a gente consiga de alguma maneira. O importante é lembrar, afinal, que se trata de uma casa de diversões; isto é, um lugar de entretenimento. Se as pessoas realmente se perdessem ou ficassem machucadas ou assustadas demais lá dentro, o dono faliria. Haveria até processos. Nenhum personagem num trabalho de ficção pode fazer um discurso longo assim sem interrupção ou resposta dos outros personagens”.
Mamãe provocou o Tio Karl: “Três é demais, sempre ouvi falar.” Mas na verdade Ambrose estava aliviado que Peter também tivesse uma moeda. Nada era o que parecia. A cada instante, sob a superfície do Oceano Atlântico, milhões de seres vivos devoravam uns aos outros. Pilotos caíam em chamas pela Europa; mulheres eram forçadamente estupradas no Sul do Pacífico. Seu pai deveria levá-lo para um canto e dizer: “Existe um simples segredo para passar pela casa de diversões, tão simples quanto ser o primeiro a ver as Torres. Aqui está. Peter não o conhece, nem o seu Tio Karl. Você e eu somos diferentes. Sem qualquer surpresa, você com frequência desejou não tê-lo sido. Não ache que eu não notei o quão infeliz a sua infância foi. Mas você entenderá, quando eu lhe contar, porque o segredo precisou ser guardado até agora. E você não se arrependerá de não ser como seu irmão ou seu tio. Pelo contrário!”. Se você soubesse das histórias por trás de todas as pessoas no calçadão, você perceberia que nada era o que parecia. Maridos e mulheres com frequência se odiavam; pais não necessariamente amavam seus filhos; et cetera. Uma criança tomava as coisas como garantidas porque ela não tinha nada para poder comparar a sua vida e todo mundo agia como se as coisas fossem como elas deveriam ser. Portanto cada um se via como o herói da história, quando a verdade pudesse revelar que na verdade se era o vilão, ou o covarde. E não havia nada sequer que você pudesse fazer quanto a isso!
Corcundas, mulheres gordas, tolos – que ninguém escolhesse o que era era inaceitável. Nos filmes ele encontraria uma jovem linda na casa de diversões; eles escapariam por um fio de perigos verdadeiros; ele faria e falaria as coisas certas; ela também; no fim seriam amantes; suas falas se encaixariam; ele estaria perfeitamente à vontade; ela não apenas gostaria dele o suficiente, ela o acharia maravilhoso; ela ficaria na cama acordada pensando nele, ao invés de vice-versa – o jeito como o rosto dele ficava em diferentes luzes e como ele se portava e o que exatamente ele dizia –, e ainda assim seria apenas um breve episódio de sua vida maravilhosa, dentre vários vários outros. Nem sequer um ponto de inflexão. O que havia acontecido na cabana não era nada. Ele odiava, ele desprezava seus pais. Uma razão para não escrever um conto de perdido-na-casa-de-diversões é que ou todos sentiram o que Ambrose sente, em cujo caso não há o que falar, ou pessoa normal alguma sente estas coisas, em cujo caso Ambrose é uma aberração. “Há algo mais cansativo, na ficção, que os problemas de adolescentes sensíveis?”. E tudo está longo e prolixo demais, como se o autor. Por tudo que alguém sabe na primeira vez, o fim poderia estar logo após qualquer curva; talvez, não é impossível que tenha estado ao alcance algumas vezes. Por outro lado, ele pode mal ter passado do início, com tudo ainda a ser atravessado, uma ideia intolerável.
Preencher: As sobrancelhas levantadas de seu pai quando ele anunciou sua decisão de ir à casa de diversões com Magda. Ambrose agora entende, mas na época não, que o seu pai estivesse se perguntando se o filho saberia para que a casa de diversões servia – especialmente já que ele não contestou, como deveria ter feito, quando Peter decidiu que também iria junto. A mulher da bilheteria, jeito de bruxa, mortificando-o quando inadvertidamente ele lhe deu a moeda marcada com seu nome ao invés do meio dólar, então chamando grosseiramente a atenção de Magda para a marca de nascença na têmpora dele: “Olho aberto, menina, ele é um homem marcado!”. Ela nem era cruel, ele entendia, apenas vulgar e insensível. Em algum lugar no mundo havia uma jovem com uma compreensão tão esplêndida que ela o veria por inteiro, como um poema ou conto, e acharia suas palavras afinal de contas tão valiosas que quando ele confessasse suas apreensões ela lhe explicaria o porquê de elas serem na verdade justamente o que lhe faz valioso para ela…e para a Civilização Ocidental! Não havia tal jovem, sendo dita a mera verdade. Bocejos violentos enquanto eles se aproximavam da boca. Conselho sussurrado de um coroa num banco próximo ao barril: “Se abaixe como um caranguejo e você vai vai ter uma visão de encher os olhos, sem arrependimentos!”. A compostura se foi na primeira chance: Peter urrou alegremente, Magda se desequilibrou, gritou agudo, prendeu sua saia; Ambrose se mexeu como um caranguejo, lábios travados de terror, logo se levantou, observou sua moeda personalizada escorregar entre os casais. Rosto envergonhado, ele percebeu que se deslocar com eficiência não era o propósito; Peter fingiu oferecer ajuda para poder erguer Magda, gritando “Chegou o Natal!” quando as pernas dela voaram. O velho, seu último traidor, cacarejou de aprovação. Então um salão mal-iluminado com teias negras de aranha e gravações que emitiam sons inarticulados: ele tomou Magda pelo cotovelo para estabilizá-la contra os discos giratórios postos no piso inclinado que lhe derrubam por baixo, e explicou-lhe numa voz calma e grave sua teoria de que cada estágio da casa de diversões era ativado ou automaticamente, por uma série de dispositivos fotoelétricos, ou então manualmente por operadores posicionados atrás de viseiras. Porém ele perdeu a voz por três vezes enquanto os discos lhe desequilibravam; Magda não parava de guinchar; mas uma hora ela se segurou nele pela cintura para não caírem, e sua bochecha direita ficou pressionada por um momento contra a fivela do cinto dele. Heroicamente ele a ergueu, era sua chance de segurá-la por perto como se para equilibrá-la e dizer: “Eu te amo”. Ele tinha chegado a colocar um braço de leve sobre as costas dela quando um casal de marinheiro-e-menina esbarrou neles por trás, pisando dolorosamente no dedão do pé dele e derrubando Magda por inteiro junto com eles. A menina do marinheiro era uma vadia de cabelos lambidos com uma risada alta e calcinha azul-clara; Ambrose percebeu que não teria de todo modo dito “Eu te amo”, e estava ferido de auto-desprezo. Como teria sido melhor ser aquele marinheiro comum! Um 3º sargento baixo e franzino, o rapaz apertava a menina para todo canto e tropeçou hilariamente para dentro do salão dos espelhos, e esteve mais próximo de Magda em trinta segundos do que Ambrose tinha chegado em treze anos. Ela deu risadinhas para algo que o sujeito disse para Peter; ela afastou os cabelos dos olhos com um movimento tão feminino que paralisou o coração de Ambrose; Peter dando um tapa em seu traseiro, então, pareceu particularmente rude. Mas Magda fez uma expressão de indignação satisfeita e gritou, “Tudo bem para você portanto, senhor!” e seguiu Peter labirinto adentro sem olhar para trás. O marinheiro os acompanhou logo depois, sem pressa, puxando a menina contra seu quadril; Ambrose entendeu não apenas que estavam todos tão aliviados em se livrar de sua onerosa companhia que nem sequer notaram sua ausência, como também que ele mesmo compartilhava do alívio. Caminhando enfim da passagem traiçoeira para o labirinto de espelhos, ele viu mais uma vez, mais claro do que nunca, o quão prontamente ele se enganava em acreditar que era um ser humano. Ele até mesmo anteviu, estremecendo ante aquele terrível autoconhecimento, que ele repetiria a fraude, em intervalos cada vez mais longos, por toda a sua vida amaldiçoada, tão amedrontadoras eram as alternativas. Fama, loucura, suicídio; talvez todas os três. Não é crível que um garoto tão jovem possa articular tal reflexão, e na ficção o meramente verdadeiro deve sempre ceder ao plausível. Além do mais, o simbolismo está em alguns lugares posto com mão pesada. Mesmo assim, Ambrose M_____ entendeu, como poucos adultos o fazem, que a famosa solidão dos grandes não era um mito popular, mas uma verdade geral – ademais, que era tanto causa como efeito.
Todo o trecho precedente exceto as últimas sentenças é exposição que deveria ter sido feita mais cedo ou intercalada com a ação presente ao invés de permanecer agrupada. Nenhum leitor suportaria este tanto com tanta prolixidade. É interessante que o pai de Ambrose, apesar de presumivelmente um homem inteligente (como indicado por seu papel como diretor de escola), não encorajou nem desencorajou seus filhos em qualquer aspecto – como se ele não se importasse com eles ou até se importasse mas não soubesse como agir. Se este fato contribuísse para um deles virar um cientista celebrado mas desgraçadamente infeliz, seria algo bom ou não? Ele mesmo algum dia também pode vir a encarar a questão; seria útil saber se a dúvida também torturara o seu próprio pai por anos, por exemplo, ou se nunca sequer atravessara sua cabeça.
No labirinto duas coisas importantes aconteceram. Primeiro, nosso herói encontrou uma moeda personalizada que outra pessoa tinha perdido ou descartado: AMBROSE, remetendo ao famoso navio e à sobremesa favorita de seu falecido avô, que sua mãe costumava preparar em ocasiões especiais com coco, laranjas, uvas e o que mais tivesse. Segundo, enquanto ele devaneava com as replicações sem fim de sua imagem nos espelhos, segundo, enquanto ele se perdia na reflexão de que a necessidade de um observador tornava a perfeita observação impossível, melhor fazê-lo ter dezoito de vez, apesar de que isto tornaria outras coisas improváveis, ele escutou Peter e Magda soltando risos abafados juntos em alguma parte do labirinto. “Aqui!”, “Não, aqui!”, eles gritavam um ao outro; Peter disse, “Cadê Amby?”, Magda murmurou. “Amb?”. Peter chamou em volta. Numa voz amigável, gentil. Ele não respondeu. A verdade era, seu irmão era um rapazinho despreocupado que estaria melhor com um irmão normal, mas que poucas vezes reclamava do que tinha e era cordial em geral. A garganta de Ambrose doeu; não existem muitos jeitos de se dizer isso. Ele ficou quieto enquanto os dois jovens davam risadinhas e se esbarravam através do labirinto cintilante, comemoravam a descoberta da saída, gritavam em deliciosa apreensão diante do próximo perigo. Ele então ajeitou a boca e os seguiu, ou assim supunha, tomou uma saída errada e se perdeu para a passagem onde ele ainda permanece.
A ação de uma narrativa dramática convencional pode ser representada por um diagrama chamado Triângulo de Freitag:
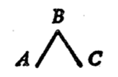
ou mais precisamente por uma variante deste diagrama:

onde AB representa a exposição, B, a introdução do conflito, BC a “ação crescente”, complicação, ou desenvolvimento do conflito, C, o clímax, ou inflexão da ação, CD, o dénouement, ou resolução do conflito. Apesar de não haver razão para se encarar este padrão como uma necessidade absoluta, ele assim como muitas outras convenções se tornou convencional justamente porque um grande número de pessoas ao longo de muitos anos aprenderam por tentativa e erro que ele era eficaz; não se deveria renunciá-lo, portanto, a não ser que se deseje renunciar também o efeito do drama ou haja uma causa clara para sentir que a violação deliberada do padrão “normal” possa ter melhor efeito. Isto não pode seguir por muito mais tempo; é capaz de seguir para sempre. Ele morreu contando histórias a si mesmo no escuro; anos depois, quando ela aquela área insuspeita e vasta da casa de diversões veio a lume, a primeira expedição encontrou seu esqueleto em um dos corredores labirínticos e o tomou de início como parte do entretenimento. Ele morreu de fome contando histórias a si mesmo no escuro; mas desconhecidamente desconhecidamente para ele, um assistente operador da casa de diversões, acontecendo de escutá-lo, agachou-se logo atrás da divisória de amadeirado e escreveu cada uma de suas palavras. A filha do operador, uma jovem de extraordinária beleza com formas notavelmente desenvolvidas para a sua idade, agachou-se logo atrás da divisória de amadeirado e transcreveu cada uma de suas palavras. Mesmo sem jamais tê-lo tido diante dos olhos, ela reconheceu que ali estava uma das verdadeiramente grandes imaginações da Cultura Ocidental, a eloquência de cujo sofrimento seria uma inspiração para inúmeros. E seu coração estava dividido entre o amor pelo jovem desafortunado (sim, ela o amava, mesmo sem jamais tê-lo tido mesmo que somente o conhecesse – mas quão bem! – por suas palavras, e pela voz calma e profunda com a qual ele as falava) entre o amor et cetera e a intuição feminina de que somente em sofrimento e isolação ele seria capaz de dar voz et cetera. A morte solitária e escura. Calmamente ela beijava o amadeirado áspero, e uma lágrima descia sobre a página. Onde ela havia escrito em códigos Onde ela havia escrito em códigos Onde ela havia escrito em códigos Onde ela et cetera. Um bom tempo atrás nós deveríamos ter cruzado o ápice do Triângulo de Freitag e despachado rapidamente o dénouement; a trama não se ergue em passos significativos mas dá voltas sobre si mesma, divaga, recua, hesita, suspira, colapsa, expira. O clímax da história precisa ser a descoberta por parte do protagonista de um caminho para atravessar a casa de diversões. Mas ele não encontrou nenhum, pode ter cessado a busca.
Qual relevância a guerra deve ter para esta história? Deveria haver fogos de artifício fora ou não?
Ambrose vagueava, definhava, repousava. De quando em quando ele recaía no hábito de contar a si mesmo a história enfadonha de sua vida, narrada em terceira pessoa, de sua memória mais distante parêntese de folhas de bordo vibrando à beira-mar em Maryland sob a brisa de verão fim do parêntese até o presente momento. Seus eventos principais, nessa narração própria, pareceriam ter sido A, B, C e D.
Ele se imaginou dali a muitos anos, bem-sucedido, casado, em paz com o mundo, as provações da adolescência há muito superadas. Ele veio ao litoral com sua família para o feriado: como Ocean City mudou! Mas num poucas vezes num mal-frequentado canto do calçadão algumas atrações abandonadas sobrevivem desde tempos distantes: o grande carrossel da virada do século, com seus grifos monstruosos e orquestra mecânica; a montanha-russa que se diz que desde 1916 estava condenada; a galeria de tiro mecânica onde somente o que mudava era a imagem dos inimigos. Seu próprio filho ri com a Gorda May e quer saber o que uma casa de diversões é; Ambrose abraça apertado o rapaz robusto e sorri em torno de seu cachimbo para sua esposa.
A família está indo para casa. Mamãe se senta entre Papai e o Tio Karl, que o provoca gentilmente que ri quanto ao fato de que o camarada com quem ele desbravou a casa de diversões, lutando ombro-a-ombro, veio a ser uma menina cega e negra – para o desconforto mútuo dos dois, já que eles se tinham exposto as almas. Mas assim são as barreiras do costume, que mesmo assim. Os braços de quem estão onde? Como isso deve sentir. Ele sonha de uma casa de diversões mais vasta de longe que qualquer uma já construída; mas à esta altura elas poderão estar fora de moda, como navios a vapor e trens de excursão. Já excêntricas e puídas: as damas drapejadas nas frisas do carrossel são o sonho acordado do pai do seu pai; se ele pensar mais nisso irá vomitar sua maçã-do-amor.
Ele devaneia: irá se tornar uma pessoa normal? Algo deve ter dado errado; a vacina que não tomou; na iniciação ao lado da fogueira no acampamento de escoteiros, ele somente fingiu ficar profundamente comovido, assim como ele finge até agora que não está tão ruim assim na casa de diversões, e que ele somente está com uma dormência. Quanto tempo durará? Ele vislumbra uma casa de diversões realmente estupenda, incrivelmente complexa mas toda controlada por um grande painel central como o teclado de um órgão. Ninguém tinha imaginação o suficiente. Ele poderia projetar um lugar assim sozinho, e tinha somente treze anos. Ele seria seu operador: luzes no painel revelariam o que estava acontecendo em cada fissura dessa astúcia dessa vastidão multifacetada; um conjunto de alavancas facilitaria o caminho deste sujeito, complicaria o daquele, equilibraria as coisas; se alguém parecesse perdido ou assustado, tudo que o operador precisava fazer era.
Ele desejou nunca ter entrado na casa de diversões. Mas já entrou. Então desejou estar morto. Mas não está. Portanto ele construirá casas de diversões para os outros e será seu operador – embora preferisse estar entre os amantes para quem as casas de diversões são projetadas.
O Segundo Desencanto da Vida Adulta
O Jardim e a Criança
Desde que existem o dia e a noite, em cada manhã Ele se senta em seu trono, nele permanecendo até o pôr-do-sol.
Quatro portais de pedra alinhados com as antigas direções cardeais romanas dão acesso ao jardim. Sobre cada um dos portais, corvos de obsidiana vigiam o mundo, metade olhando para fora, metade para dentro. Após os portais, pontes de mármore arqueadas sobre o lago circular, que envolve e dá vida ao jardim, levam ao centro. Nele, quinze pilares claros, tão altos que não é possível se enxergar seus topos a partir do chão, circundam o trono. Construído em puro alabastro, o trono é o objeto mais branco que se pode encontrar, um sol terreno que rivaliza com a sua contraparte astral em fulgor.
Aos pés do trono, um mar de flores extraídas de cada continente, sobretudo begônias, lírios e crisântemos, refletem a luz em direções opacas durante todo o período em que Ele lá se encontra. De vez em quando, quase nunca mais do que uma vez por dia, Ele retira o botão de alguma das flores mais próximas ao trono, pedindo à criança seguinte apenas que aguarde um pouco enquanto Ele observa as pétalas despencarem.
Durante cada um dos dias, da alvorada ao ocaso, Ele recebe crianças em seu colo: uma menina de cinco anos que, adormecida numa rede, sonha em Bogotá; um garoto de oito em coma induzido numa UTI em Kobe; dois gêmeos que pisaram juntos numa mina em uma praia em Myanmar. Ele não faz distinção entre aqueles que fora daqui são tidos como vivos ou como mortos. Esta dicotomia interessa somente àqueles incapazes de ver que a inconsciência de cada noite é um ensaio para o apagar final. Para quem pisa no jardim e observa o céu, tudo lá fora está congelado para sempre no limbo entre sono e vigília.
As crianças vêm aqui tirar dúvidas sobre o mundo de fora. As mais afoitas perguntam sobre seu futuro. As mais tímidas, sobre seus pais. Algumas acariciam Seus chifres com curiosidade enquanto tentam articular frases completas. Outras apenas gargalham observando Seu focinho, distraídas demais com o formato das narinas. Com essas, Ele apenas ri de volta, lhes fazendo cócegas, o que lhes faz rir mais ainda.
Uma criança ou outra, mais propensa a desafios, Lhe provoca. Ele instintivamente muda o semblante numa pantomima de quem finge estar insultado.
“Minha mãe disse que não é para falar com estranhos.”
“Mas quem disse que eu sou estranho?”
“Você parece estranho.”
“Por que diz isso? Pela minha aparência?”
“Não. Sua aparência não me incomoda. Eu até gosto. Mas você é um estranho porque nunca te vi antes.”
“Não sou um estranho, e vou lhe provar.” Aproximando o rosto escamoso do do menino, que sorri sentindo nas bochechas o ar quente que Ele emana, prossegue: “Estive com você desde que nasceu. E com seus pais desde que nasceram. E com os pais deles também. Tudo vi. E por isso estou aqui falando com você agora.”
Depositando o garoto com carinho aos pés do trono, Ele recolhe agora um outro menino sem um dos braços, que fala baixo e para dentro. Antes que a primeira frase fosse concluída, o primeiro menino já está à beira do lago, feliz e prestes a saltar, nu como todas as crianças do jardim estão desde que aqui chegam.
Sua maior diversão consiste em ouvir o que cada criança tem a perguntar (toda criança sempre tem muito a perguntar) e responder-lhe então do modo mais inesperado que é capaz. Nos primeiros séculos, ainda insistia em retorquir alguma pergunta que acreditava despropositada com uma resposta obscena ou asquerosa. Percebeu que dessa maneira envergonhava o suposto despropósito das perguntas (pouquíssimas o são de fato) com o despropósito maior ainda de suas respostas: a obscenidade e o asco expõem todo seu ridículo frente a alguém que não os percebe.
Ele permanece há milênios nesse arranjo, que por bastante tempo Lhe tem agradado. Alteram-se as línguas das crianças (e Ele sempre teve prazer em ouvir e falar todas), alteram-se as cores de pele que mais aparecem (e Sua própria pele sempre teve ao mesmo tempo todas as cores), alteram-se as brincadeiras que as crianças trazem ao jardim (e Ele sempre gostou de observar a todas, sentado em Seu trono a cantarolar melodias que não foram lembradas pelos povos).
As perguntas, no entanto, essas nunca se alteram. Nem o sono, e tampouco a morte.
—
Um dia, impossível dizer quantos antes já tinham se passado, uma menina acorda no jardim. Banal dentre todas em aparência, segue à fila junto com as outras crianças que chegaram pouco antes ou depois, se mantendo todo o tempo calada. Não entende o que as outras dizem, nem o que seus gestos significam. Não chega a ficar assustada; simplesmente percebe que de nada adianta interagir, e se resigna.
Ao chegar a sua vez, caminha sem pressa rumo ao trono, e espera ser erguida por Ele até Seu colo. Lá, conserva-se imóvel, observando com curiosidade cada reentrância dos ossos ao redor de Seus olhos, cada ponta de Seus caninos.
“Não vai me perguntar nada?”
“Não.”
“Por que não?”
“Porque não acredito em Você.”
“Mas Eu não estou à sua frente?”
“Sim. Mas não é porque é visível que é real.”
“Mas você não está sentada sobre Mim?”
“Sim. Mas não é porque é sólido que é real.”
“Mas você não está se queimando com essas chamas que faço agora sair do meu corpo com violência?”
“Sim. Mas não é porque machuca que é real.”
“E se Eu lhe obrigar a permanecer aqui, longe para sempre de tudo que você amou, você ficaria assustada?”
“Sim. Mas não é porque causa medo que é real.”
“E o que então poderia me tornar real?”
Ela pede que Ele lhe erga até Seu ouvido. Ele o faz lentamente, olhando-a nos olhos enquanto a levanta. Quando pronta, ela cobre as laterais do rosto com as duas mãos, e sussurra.
O Seu rosto se altera numa expressão que ninguém jamais testemunhará novamente. As pequenas ondas do lago paralisam-se em pleno fluir, e todas as crianças do jardim se viram para o centro.
Pela primeira vez, Ele se levanta do trono antes que o dia finde.
“Você sabe agora tudo que eu sempre precisei saber. O jardim é seu. Tome meu lugar, e não me procure mais.”
Põe a menina no trono, cujos pés suas perninhas mal alcançam. Olha em volta como se apenas agora notasse a beleza do local, e se vai.
A Saga de Sal – Parte 2
—
A Saga de Sal – Parte 1
Ursula K. Le Guin – Aqueles que Abandonam Omelas
[tradução livre do conto The Ones Who Walk Away from Omelas, de Ursula K. Le Guin, por Lealdo Andrade]
Com um clamor de sinos que fez as andorinhas levantarem voo, o Festival de Verão chegou à cidade de Omelas, de torres claras à beira-mar. Os cascos dos navios aportados brilhavam com suas bandeiras. Nas ruas, entre casas de telhados vermelhos e paredes pintadas, entre velhos jardins repletos de musgos e trilhas de árvores, através de grandes parques e prédios públicos, procissões se moviam. Algumas eram decorosas: velhos em mantos longos e rígidos de cores malva e cinza, mestres-de-obras solenes, mulheres quietas e felizes carregando seus bebês e conversando enquanto caminhavam. Noutras ruas a música batia mais rápido, uma cintilância de gongos e tamborins, e as pessoas seguiam dançando, a procissão era uma dança. Crianças se infiltravam e escapuliam, seus assovios agudos se levantando tão alto quanto os voos cruzados das andorinhas sobre a música e o canto. Todas as procissões marchavam em direção ao lado norte da cidade, onde, no grande prado úmido chamado Campos Verdes, meninos e meninas, nus ao ar cristalino, de pés e tornozelos enlameados e braços finos e ágeis, exercitavam seus cavalos irrequietos antes da corrida. Suas crinas tinham sido trançadas com serpentinas prateadas, douradas e verdes. Eles alargavam suas narinas e se empinavam e se exibiam uns para os outros; estavam excitados imensamente, sendo o cavalo o único animal que tinha adotado a cerimônia como se fosse propriamente sua. Ao longe, para o norte e para o oeste, as montanhas se erguiam cercando metade de Omelas em sua enseada. O ar da manhã era tão limpo que as neves que permaneciam coroando os Dezoito Picos queimavam em um fogo branco e dourado por quilômetros de ar ensolarado sob um céu azul-escuro. Havia somente o necessário de vento para fazer as bandeirolas que marcavam o percurso da corrida estalarem e baterem ali e aqui. No silêncio das pradarias largas e verdes se podia ouvir a música serpenteando por entre as ruas, mais longe ou mais perto mas sempre se aproximando, uma doçura no ar vaga e animada que de tempos em tempos estremecia e convergia e invadia o clangor grandioso e alegre dos sinos.
Que alegria! Como alguém pode falar sobre a alegria? Como descrever os habitantes de Omelas?
Eles não eram gente simples, você entende, apesar de serem felizes. Mas nós agora não falamos mais muitas palavras de felicidade. Todos os sorrisos se tornaram arcaicos. Uma descrição como esta costuma fazer alguém supor certas premissas. Uma descrição como esta costuma fazer alguém esperar um Rei, montado num garanhão esplêndido e cercado por seus nobres cavaleiros, ou quem sabe num ninho dourado carregado por seus escravos musculosos. Mas não havia rei. Eles não portavam espadas, ou mantinham escravos. Eles não eram bárbaros. Eu não conheço as regras e leis de sua sociedade, mas suspeito que houvesse singularmente poucas. Assim como eles dispensavam monarquia e escravidão, mantinham-se também sem bolsa de valores, propagandas, polícias secretas ou a bomba. No entanto, insisto que não eram gente simples, nem camponeses doces, nobres selvagens, utopistas meigos. Eles não eram menos complexos que nós. O problema é que nós temos um mau hábito, encorajado por pedantes e sofisticados, de considerar a felicidade como algo um tanto estúpido. Somente a dor é intelectual, somente o mal é interessante. Essa é a traição do artista: uma recusa em admitir a banalidade do mal e o tédio terrível da dor. Se não consegue triunfar sobre eles, una-se a eles. Se dói, repita. Mas elogiar o desespero é condenar o deleite, abraçar a violência é perder todo o resto. Nós quase perdemos; não podemos mais descrever um homem feliz, nem celebrar a alegria. Como eu poderia lhe contar sobre a gente de Omelas? Eles não eram crianças felizes e ingênuas – apesar de que suas crianças eram felizes, por certo. Eles eram adultos maduros, inteligentes e passionais cujas vidas não eram miseráveis. Que milagre! Mas eu gostaria de poder descrevê-lo melhor. Eu gostaria de poder lhe convencer. Omelas soa nas minhas palavras como uma cidade de conto de fadas, de um tempo longínquo, que uma vez foi. Talvez seria melhor se você a concebesse como a sua própria imaginação pede, se ela disso for capaz, já que eu certamente não posso satisfazer todos vocês. Por exemplo, como ficaria a tecnologia? Eu penso que não haveria carros nem helicópteros nas e sobre as ruas; isso vem do fato de que as pessoas de Omelas são pessoas felizes. A felicidade se baseia na discriminação justa do que é necessário, do que não é nem necessário nem destrutivo, e do que é destrutivo. Na categoria intermediária, no entanto – aquela do desnecessário mas não destrutivo, aquela do conforto, luxo, exuberância, etc. – eles poderiam ter perfeitamente bem calefação, metrôs, máquinas de lavar e todos os tipos de dispositivos maravilhosos ainda não inventados aqui, luzes flutuantes, energia limpa, uma cura para a gripe. Ou eles poderiam não ter nada disso: não importa. Fica a seu critério. Eu tendo a pensar que as pessoas das cidades a norte e sul da costa têm vindo a Omelas durante os últimos dias antes do Festival em pequenos trens bastante rápidos e bondes de dois andares, e que a estação de trem de Omelas é na verdade o prédio mais bonito da cidade, apesar de mais simples que o magnífico Mercado. Mas mesmo garantindo a existência de trens, eu temo que Omelas até agora pareça a alguns de vocês como fofinha demais. Sorrisos, sinos, paradas, cavalos, blá. Se é o caso, por favor, adicione uma orgia. Se uma orgia ajudar, não hesite. Não tenhamos, entretanto, templos dos quais surjam sacerdotes e sacerdotisas nus e belos já meio em êxtase e prontos para copular com qualquer homem ou mulher, amante conhecido ou estranho que deseje unir-se com a divindade profunda do sangue, mesmo que tenha sido essa a minha primeira ideia. De verdade, seria melhor não ter qualquer templo em Omelas – ao menos, não templos com gente. Religião sim, clero não. Sem dúvida aquelas belas pessoas nuas podem simplesmente vagar por aí, oferecendo-se como suflês divinos para a fome dos necessitados e o arrebatamento da carne. Que eles se unam às procissões. Que os tamborins toquem acima das cópulas, e que a glória do desejo seja proclamada sobre os gongos, e que (ponto não desimportante) a prole resultante desses rituais deleitosos seja amada e criada por todos. Uma coisa que eu sei que não tem em Omelas é culpa. Mas o que mais deveria ter? Eu de primeira pensei que não haveria drogas, mas isso é puritano. Para aqueles que gostarem, a doçura vaga e insistente do drooz pode perfumar os caminhos da cidade, drooz esse que no início traz uma grande leveza e um lampejo aos membros e mente, e então após algumas horas um langor delirante, e ao fim visões maravilhosas dos segredos mais arcanos e internos do Universo, assim como estimula o prazer do sexo além do imaginável; e não vicia. Para paladares mais modestos eu penso que precisa haver cerveja. O que mais, o que mais pertence à feliz cidade? O senso de vitória, com certeza, a celebração da coragem. Mas assim como chegamos até aqui sem clero, permaneçamos sem soldados. A alegria resultante de uma matança bem-sucedida não é o tipo correto de alegria; não funciona; é temerosa e trivial. Um contentamento vasto e generoso, um triunfo magnânimo sentido não só contra um inimigo externo mas em comunhão com o mais belo e justo das almas dos homens de toda parte e o esplendor do verão mundial; é isso o que faz dilatar os corações do povo de Omelas, e a vitória que eles celebram é a da vida. Eu de fato não penso que muitos deles precisem tomar drooz.
A maior parte das procissões já chegou aos Campos Verdes a essa altura. Um aroma esplêndido de comida emerge das cabanas azuis e vermelhas dos cozinheiros. Os rostos das criancinhas são amigavelmente pegajosos; na barba cinza e benigna de um homem um par de farelos de ricos pastéis estão emaranhados. Os jovens e as moças montaram seus cavalos e estão começando a se agrupar próximos à linha de partida. Uma velha, baixa e gorda e risonha, está distribuindo flores de um cesto, e homens jovens e altos as utilizam em seus cabelos lustrosos. Uma criança de nove ou dez anos está sentada numa ponta da multidão, sozinha, tocando uma flauta de madeira. As pessoas param para ouvi-la, e sorriem, mas não falam com ela, pois ela nunca para de tocar e nem as vê, seus olhos escuros inteiramente envolvidos na magia delicada e doce da melodia.
Ela para, e lentamente abaixa as mãos que seguram a flauta de madeira.
Como se aquele pequeno silêncio privado fosse o sinal, de súbito soa um trompete do pavilhão próximo da linha de partida: soberbo, melancólico, rasgante. Os cavalos se empinam em suas patas esguias, e em seguida alguns relincham. Sóbrios, os jovens cavaleiros afagam seus pescoços e os acalmam, sussurrando “Quietos, quietos, minha beleza, minha esperança…”. Eles começam a formar uma fileira ao longo da linha de partida. A multidão ao longo do percurso é como um campo de gramas e flores ao vento. Teve início o Festival de Verão.
Você acredita? Você aceita o festival, a cidade, a alegria? Não? Então deixe-me descrever algo a mais.
Em um porão abaixo de um dos belos edifícios públicos de Omelas, ou talvez na despensa de uma das suas casas espaçosas, existe um quarto. Ele tem somente uma porta trancada, e nenhuma janela. Um pouco de luz empoeirada se infiltra através de rachaduras nas tábuas, recebida indiretamente de uma janela repleta de teias de aranha localizada em alguma parte da despensa. Num dos cantos do pequeno quarto encontra-se um par de esfregões, com cabeças ressecadas e fedorentas, além de um balde enferrujado. O chão é sujo, meio úmido ao toque, como é em geral sujeira de porão. O quarto mede três passos de comprimento por dois de largura: um mero armário de vassouras ou sala de ferramentas abandonada. No quarto, uma criança está sentada. Pode ser um menino ou menina. Parece ter seis anos, mas na verdade tem quase dez. Sua mente é enfraquecida. Talvez tenha nascido defeituosa ou talvez tenha se tornado imbecil através do medo, desnutrição e negligência. Tira sujeira do nariz e apalpa ocasionalmente seus dedos dos pés e genitais enquanto permanece sentada no canto mais distante do balde e dos dois esfregões. Tem medo dos esfregões. Acha-os horríveis. Fecha seus olhos, mas sabe que os esfregões continuarão lá; e ninguém virá. A porta permanece sempre trancada; e ninguém vem, exceto que de vez em quando – a criança não tem compreensão do tempo ou de intervalos – de vez em quando a porta estremece terrivelmente e se abre, e uma pessoa, ou várias delas, estão lá. Uma delas talvez venha e chute a criança para fazê-la ficar de pé. As outras nunca chegam perto, apenas espreitam com olhos repletos de medo e desgosto. A tigela de comida e a jarra d’água são enchidas com pressa, a porta se fecha, os olhos somem. As pessoas na porta nunca dizem nada, mas a criança, que não viveu desde sempre na sala de ferramentas, e é capaz de se lembrar da luz do dia e da voz da sua mãe, de vez em quando fala. “Eu vou ser bonzinho”, ela fala, “Por favor, me deixa sair. Eu vou ser bonzinho!”. Eles nunca respondem. A criança costumava gritar por socorro à noite, e chorar uma boa parte do tempo, mas agora só faz uma espécie de choramingar, “ê-ahn, ê-ahn”, e fala com menos e menos frequência. É tão magra que suas pernas não têm panturrilhas; sua barriga se projeta para fora; vive com meia tigela de milho e gordura por dia. Permanece pelada. Suas nádegas e coxas são uma massa de feridas supuradas, por permanecer sentada continuamente no próprio excremento.
Todo mundo sabe que ela está ali, todo mundo de Omelas. Alguns deles vêm vê-la, outros se contentam meramente de saber que ela está ali. Todos eles sabem que ela precisa estar ali. Alguns deles entendem o porquê, e outros não, mas todos entendem que sua felicidade, a beleza de sua cidade, a ternura de suas amizades, a saúde de suas crianças, a sabedoria de seus estudiosos, a habilidade de seus artesãos, até a abundância de suas colheitas e o clima generoso de seus céus dependem por inteiro da miséria abominável daquela criança.
Isso costuma ser explicado às crianças quando elas têm entre oito e doze, assim que elas parecerem capazes de entendê-lo; e a maioria desses que vêm ver a criança são jovens, ainda que com certa frequência um adulto venha, ou venha de novo, visitar a criança. Não importa o quão bem o problema lhes tenha sido explicado, esses jovens espectadores sempre ficam chocados e enojados com a visão. Eles sentem desgosto, sentimento ao qual se sentiam superiores. Sentem raiva, ultraje e impotência, apesar de todas as explicações. Eles gostariam de fazer algo pela criança. Mas não há nada que possam fazer. Se a criança fosse transportada daquele lugar abjeto à luz do sol, se fosse limpa e alimentada e cuidada, seria algo bom, por certo; mas se isso fosse feito, naquele dia e hora toda a prosperidade e beleza e encanto de Omelas murchariam e seriam destruídos. Essas são as condições. Trocar toda a benevolência e graça de cada vida em Omelas por aquela pequena e única melhoria: jogar fora a felicidade de milhares pela chance de felicidade de uma: isso seria, com efeito, deixar a culpa adentrar a cidade.
Os termos são estritos e absolutos; nem sequer uma palavra gentil pode ser dita à criança.
Repetidamente os jovens voltam para suas casas em lágrimas, ou numa fúria seca, depois de terem visto a criança e contemplado esse paradoxo terrível. Eles talvez o remoam por semanas ou anos. Mas com o passar do tempo eles passam a perceber que mesmo que a criança fosse liberta, não extrairia muito de sua liberdade: um prazer diminuto e vago do calor e da comida, sem dúvida, mas pouco a mais. Está degradada e imbecil em excesso para conhecer qualquer felicidade real. Permaneceu amedrontada tempo demais para algum dia se livrar do medo. Seus hábitos estão brutos demais para responder a um tratamento humano. Aliás, depois de tanto tempo ela provavelmente ficaria desgraçada sem os muros para protegê-la, sem a escuridão para seus olhos, sem o próprio excremento para se sentar. Suas lágrimas causadas pela injustiça amarga secam quando eles percebem a justiça terrível da realidade, e a aceitam. Todavia, suas lágrimas e raiva, o esforço de sua generosidade e a aceitação de sua incapacidade, talvez sejam a real origem do esplendor de suas vidas. Sua felicidade não é supérflua ou irresponsável. Eles sabem que eles, como a criança, não são livres. Eles conhecem a compaixão. É a existência da criança, e o conhecimento por parte de todos da sua existência, que torna possível a nobreza de sua arquitetura, a vivacidade de sua música, a profundidade de sua ciência. É devido à criança que eles são tão gentis com crianças. Eles sabem que se a desafortunada não estivesse lá fungando no escuro, a outra, a que toca flauta, não seria capaz de tocar músicas deliciosas enquanto os cavaleiros em sua beleza se alinham para a corrida sob o sol da primeira manhã do verão.
Agora você acredita neles? Não estão um pouco mais críveis? Mas tem mais uma coisa a ser contada, e essa é bastante incrível.
Às vezes um dos garotos ou garotas adolescentes que vão ver a criança não voltam para casa em lágrimas ou raiva; não voltam, de fato, para casa. De vez em quando também um homem ou mulher bem mais velho cai em silêncio por um dia ou dois, e então sai de casa. Essas pessoas saem às ruas, e caminham solitárias. Permanecem caminhando, até que caminham para fora da cidade de Omelas, por entre os belos portões. Permanecem caminhando através das fazendas de Omelas. Cada uma segue sozinha, rapaz ou moça, homem ou mulher. A noite cai; o viajante deve passar por ruas de vilarejos, no meio de casas com janelas amareladas, e adiante rumo à escuridão do campo. Cada um sozinho, eles seguem a oeste ou norte, em direção às montanhas. Seguem em frente. Saem de Omelas, caminham para o escuro, e não voltam. O local a que vão é um local ainda menos imaginável para a maioria de nós que a cidade da felicidade. Eu não posso sequer descrevê-lo. É possível que não exista. Mas parecem saber aonde vão aqueles que abandonam Omelas.
Rita
1
Ouço batidas fracas na porta do apartamento. Estranho. Não espero ninguém. Felizmente não estava ouvindo música ou vendo TV, pois não teria ouvido. Apenas lia na cama. O interfone tampouco chegou a tocar. Quem poderia ser?
As batidas se repetem, mais aceleradas. Sem parar para acender a luz da sala, abro a porta. Rita se encontra à minha frente, calada. Uma figura escura de pouco mais de um metro, cuja silhueta é desenhada pela luz do hall.
De imediato, procuro por cortes, algum ferimento emergencial ou pista que justificasse a presença dela no edifício onde seu professor morava. Nada. Perfeitamente limpa. Poderia ter acabado de tomar banho. Usa um vestido preto.
– Meu Deus, Rita. Como você chegou aqui? Aliás, como sabe onde eu moro?
– …
– Alguém lhe deixou aqui na rua? Como você passou pela portaria?
– …
Tendo ignorado todas as minhas perguntas, ela me olha sério enquanto estica em minha direção uma folha que eu até então não tinha visto. Pego a folha e me viro para observá-la sob a luz do hall. Nela há um desenho feito com giz de cera. Somente duas cores: vermelho e preto.
Na parte direita da folha, em traços infantis, uma cabeça flutua. É uma cabeça de homem. Poderia ser a minha. Os olhos, talvez meus olhos, estão recheados de vermelho e parecem saltados, enquanto do pescoço pinga sangue. O corpo, um semiborrão igualmente vermelho, jaz separado da cabeça, num arranjo contorcido de braços e pernas que desafia a lógica. Acima do corpo, um carro preto. Do outro lado do desenho, uma menina também colorida de preto observa a cena à distância.
—
Três dias antes:
Me chamo Rodrigo. Sou professor de Português no Ensino Fundamental. Turmas de 2º e 3º anos. Ou seja, meus alunos têm, em média, oito de idade. A cada duas semanas, eu peço uma redação das crianças. Para escreverem na sala mesmo. Gostaria de sempre pedir tema livre, mas a maior parte se embola quando lhes é dada liberdade criativa. Ficam perguntando sobre o que afinal de contas é para escrever. É triste, porque seria justamente a hora de exercitarem sem amarras a imaginação. Paciência. Não quero, nem posso, esperar cinco horas para ver se um dos moleques se decide quanto ao que quer escrever: se é sobre o picolé que chupou com os avós no fim de semana ou sobre a catota que tirou do nariz e guardou num copo velho ao lado da cama.
Para evitar isso, eu lhes sugiro: “essa semana, quero que cada um escreva dez linhas sobre o animal que gostaria de ter”. Ou “meia página sobre tudo que fizeram no sábado”. Ou ainda, se estou me sentindo sádico, “descrevam minuciosamente o que cada membro da sua família fez hoje de manhã”, só para ver se lhes ensino a prestar atenção no mundo ao redor, ao invés de observarem unicamente as telas de seus celulares e tablets.
Os textos são cheios, em sua maioria, de erros. É claro. Meus alunos têm oito anos e estão escrevendo à mão, não no Word – não que isso salve o pescoço de todo adulto. Enfim, as crianças estão ali para aprender. Mesmo tão jovens, vejo talento em alguns. Seja para a escrita ou outros conhecimentos.
Tem um garoto, o Thyago, que é tão descritivo e preciso quando descreve seu quarto – o que acaba fazendo não importa o tema da redação – que acho difícil não ir para Arquitetura, daqui a dez anos.
Tem uma menina, a Ana, que sempre dá um jeito de escrever sobre os games que tem jogado: o que é bom e o que é ruim em cada um deles; o que funciona ou, pelo contrário, nem deveria ter sido posto no jogo. Tudo de um modo muito perspicaz, em especial para a sua idade. Disse que aprende com seu pai, que é programador e com quem passa as noites jogando. Tenho certeza que de que ela se tornará uma game designer, também daqui a dez anos, ou até menos, se for precoce.
E tem a Rita.
—
Ela não é uma aluna de muito destaque. Nunca bagunçou muito, só um dia ou outro quando as amiguinhas mais próximas também estão alvoroçadas. Normal. Suas notas sempre ficaram ali na casa dos sete e meio, incluindo Português.
Talvez nas últimas semanas estivesse mais abatida, difícil notar no meio das quarenta e pouco crianças para quem dou aula, sem contar as das outras turmas. Poderia estar apenas gripada, ou com diarreia. Deus e minha mãe sabem que eu, quando tinha essa idade, praticamente não passava uma só semana sem, como meus colegas diziam, vomitar pela bunda.
Naquela semana eu tinha pedido que meus alunos escrevessem uma página inteira sobre os pais. Naquela noite, depois de assistir pela oitava vez o filme Deixe Ela Entrar – sempre paro para ver até o fim quando pega ele pela metade na TV a cabo –, deixei o som na rádio rock e preparei um café. Iria corrigir até tarde as dezenas de páginas que discorriam repetidamente sobre a beleza e o carinho e o cansaço ao fim do dia da mãe trabalhadora e o cuidado e o rigor e o cansaço ao fim do dia do pai trabalhador. Ainda bem que meus alunos mirins escrevem redações de quinze linhas, não quinze páginas, como as dos meus ex-colegas da Faculdade de Letras.
Dentre tantas, somente quando li a redação de Rita foi que abri os olhos ao que poderia estar se passando. Quase caí da cadeira quando, numa grafia que inicialmente é pequenininha e bem-feita e aos poucos se torna maior e medonha, li as seguintes palavras:
“Meu nome é Rita. Hoje, Rodrigo, nosso professor querido de Português, pediu pra gente escrever sobre o nosso pai e a nossa mãe. Gosto muito de papai. Também gosto de mamãe. Mas não sei direito o que vou falar sobre eles. Só vou tentar ser o mais sincera possível, foi isso que ele pediu pra gente. Mamãe sempre cuidou tão bem de mim, faz comida todo dia pra gente. Papai sai correndo de manhã, mas depois que volta também brinca bastante com a gente. Os dois gostam de me dar lápis e canetas de muitas cores, é o que mais gosto de ganhar. PENA que os últimos desenhos que eu FIZ MAMÃE NÃO gostou, ela usou uma PALAVRA QUE EU ainda nunca tinha ouvido: falou QUE ERAM ALMADIÇOADOS. Não sabia o que ERA, COMECEI a CHORAR. Perguntei, MAMÃE, MAS O QUE É isso, porque a SENHORA NÃO GOSTOU do desenho? Ela falou de NOVO A MESMA PALavra, disse que eRAM ALMADIÇoadOS, e pegou todos, e rasgou. ELA RASGou TODoS MEUS DESENHOS. DEPOIS DISso, me DEIXOU DE CasTIGO e DISSE QuE EU Não IriA DESENHAR MAIS NUNCA. O QUE ela NÃO SABIA ERA QUE MEU PROFESSOR iria NOS dAR uma FOLHA E PEDIR PARa A GENTE ESCREVER NELA. AgoRA POSSO DESENHAr TUDO QUE quISER.”
O resto da folha e toda a parte externa eram cobertos de desenhos horríveis, que pareciam ter sido de fato desenhados pela Rita, se me lembro das flores e outras coisas que esperaria de uma menina da idade dela, desenhadas em papéis que ela já rabiscou em sala. A imaginação aqui estava além do conhecimento de mundo de uma criança tão nova: representações, até bem-feitas, de armas brancas, caveiras e ossos partidos, braços com seringa, corpos pendurados por cordas. Alguns instrumentos de tortura que pareciam genuinamente medievais e que eu só me lembrava de ter visto em alguns filmes sádicos italianos. O que estavam deixando aquela menina assistir?
Ainda estava para ver o pior. Quando pus a folha de lado para pensar no que fazer, vi que, ao contrário de todas as outras redações, essa tinha algo escrito no verso. Com o coração palpitando, li:
“MINHA MÃE MORREU. MEU PAI MORREU. MINHA MÃE VAI MORRER. MEU PAI VAI MORRER.
MINHA MÃE MORREU. MEU PAI MORREU. MINHA MÃE VAI MORRER. MEU PAI VAI MORRER.
MINHA MÃE MORREU. MEU PAI MORREU. MINHA MÃE VAI MORRER. MEU PAI VAI MORRER.
MINHA MÃE MORREU. MEU PAI MORREU. MINHA MÃE VAI MORRER. MEU PAI VAI MORRER.”
—
Na manhã seguinte, cheguei mais cedo, e, antes de entrar na sala para dar aula, passei na Secretaria para perguntar sobre o histórico de Rita e se eles souberam de qualquer relato quanto à sua família, se havia algum histórico de abuso ou mesmo se alguém tinha morrido. Nada.
Na sala de aula, estava em dúvida se Rita viria, e, caso viesse, como eu deveria agir. Nunca tinha visto algo parecido em oito anos dando aula para crianças dessa idade. Mesmo as que sofrem algum tipo de abuso físico ou, Deus as livre, sexual, não reagem desse modo. É sempre algo mais sutil, que reflete os sentimentos conflitantes da criança. Agora foi como se não houvesse sequer mais Rita ali. Parecia ser outra pessoa, mas quem, se ninguém entrou na sala durante o período em que eles escreviam?
Rita veio à aula, por fim. Foi a última, chegou atrasada. Talvez o pai ou a mãe tenham tido algum contratempo na hora de trazê-la. Não chamava a atenção de modo algum. Não estava particularmente feliz, mas tampouco parecia ter sido capaz de escrever o que eu lera na véspera. Preferi falar com ela ao fim da aula, a sós.
—
Quando tocou a sirene, e todos já saíam impacientes para o recreio, deixando para trás um torvelinho de mesas bagunçadas, cadernos abertos e papéis pisados, fiz sinal para Rita de que queria ter uma palavra com ela. As amiguinhas saíram fazendo aquela inconfundível expressão de “ih, se ferrou” que qualquer um faz quando seu colega é chamado pelo professor. Todos passamos por isso enquanto alunos. Nós, professores, temos o privilégio de presenciar essa cena também do outro lado da mesa. Assumo que tive medo de Rita fazer algo, talvez fugir. Ela, porém, veio em minha direção despreocupada.
– Oi, tio. – Seu tom de voz e sua expressão facial não denunciavam qualquer receio. Pelo contrário: ela sorria e parecia genuinamente curiosa. Decidi tatear a situação.
– Oi, Rita. Me diga, você está bem?
– Estou sim. Por quê? – Disse, arregalando os olhos.
– Só estou um pouco preocupado. Você se lembra do que escreveu ontem, quando pedi a vocês que fizessem uma redação?
– Não. Na verdade…não lembro de você ter pedido redação ontem.
– Como assim? – respondi, rindo – Mas é claro que pedi! Eu, você, a turma inteira estava aqui quando pedi que vocês escrevessem sobre seus pais.
– Que engraçado, tio. Só me lembro de você ficar ensinando conjugação, mais nada. Pretérito imperfeito, né? Depois fui brincar no recreio e aí tivemos aula de matemática.
– Não, não, não, eu não estou ficando louco. Sei o que aconteceu – disse mais para mim do que para ela, enquanto já procurava na minha mochila a folha. Tinha-a deixado separada, justamente para lhe apresentar e perguntar se tinha sido mesmo ela quem tinha escrito – Aqui, olha. Você fez isso ontem, mocinha.
– Mas, professor, essa folha está vazia.
Olhei para a página. De fato, estava em branco. Dos dois lados.
– Sim. Está vazia. Não é possível, deixa eu achar aqui… – revirei a mochila. De resto, tudo estava como devia estar. Nada faltando. Rita olhava para mim como se eu estivesse com problemas mentais. Havia pena no seu olhar, mas não muita; talvez mais atenção do que pena. – …é. Acho que perdi. Me desculpa, Rita. Devo ter confundido com o texto de outra pessoa. Pode sair para brincar, vai lá.
Passei cinco minutos revisando meu dia na cabeça. Me questionando se em algum momento tinha deixado a mochila à distância. Se algum aluno, de maldade ou não, poderia ter mexido, quem sabe um outro professor ou um funcionário. Não. Trouxe-a no carro e então a deixei sobre a mesa a manhã inteira, sob meu olhar. Não houve troca da folha. Olhei para o papel novamente, esperançoso, pode-se dizer, de que o que estava escrito ali ontem voltasse. Não ter que me preocupar com a própria sanidade seria talvez um peso a menos. Nada. Continuava em branco.
Naquela noite, refletindo sobre a situação, concluí que a única explicação lógica era que eu estava cansado na véspera e que a combinação tóxica do Slayer que tocava na rádio com o café mais o sono acumulado e juntando por fim o filme que tinha acabado de assistir tinha me causado uma dose de alucinação. Algo que uma mente acostumada a filmes de horror poderia criar para si a fim de quebrar a banalidade da rotina de um professor de escola primária. Dormi no sofá enquanto assistia a outro filme. Decidi na manhã seguinte deixar tudo para lá. Não queria coagir demais a menina sem que houvesse razão para isso, sem que eu soubesse que ela estava de fato envolvida.
Dois dias depois, quando voltei a dar aula para aquela turma, o lugar de Rita estava vazio.
2
Decidi ir à casa de Rita. Tinha buscado me convencer de que o que vira fazia três noites fora apenas criação da minha mente. No entanto, a ausência inexplicada dela, algo que nunca tinha acontecido antes, atinou minha curiosidade. Após a aula, conferi o endereço na Secretaria: um bairro próximo ao meu. Ótimo.
Era uma casa, não um apartamento. Isso facilita minha vida. É mais difícil evitar um eventual visitante indesejado quando se interage cara-a-cara. Bati à porta. Uma mulher com o cabelo da mesma cor de Rita, um tom marrom de madeira, me recebeu. Seus olhos estavam cansados.
– Boa tarde.
– Boa.
– Trabalho na Escola Jardim Verde. Sou professor de Rita. Você é a mãe?
– Sim, sou.
– Prazer. Meu nome é Rodrigo. Como você se chama?
– Adriana.
– Adriana, prazer. Posso entrar?
– O que você quer?
– Rita faltou na aula hoje. Tá tudo bem?
– Ela tá doente.
– Porque você não ligou na escola avisando? Ficamos preocupados.
– Tem razão. Deveria ter ligado, peço desculpas. Posso mandar depois o atestado. Era só isso que você queria?
– Não, espera. O que sua filha tem?
– Está gripada. De cama. É normal, a cada dois meses ela fica assim.
– Não posso ver como ela tá? Deixa eu ajudar.
Não esperei um convite. Me dei a liberdade de entrar, aproveitando o vão aberto da porta. Era uma casa razoavelmente grande, mas não muito mobiliada. Alguns quadros na sala, talvez de artistas locais, brinquedos espalhados no chão e no sofá. Adriana me olhava inquieta. Se me recebesse de modo mais adequado, pedindo para eu me sentar e ofertando um copo d’água, talvez me fizesse permanecer ainda mais tempo. Se me expulsasse, o que seria de seu direito, poderia aumentar minha suspeita. Aparentemente em dúvida, permaneceu ao lado da porta, sem falar nada.
– Vocês duas moram com mais alguém? Talvez seu marido?
– Sim…sim, moro. Com o Caio, meu marido, pai da Rita. Ele agora está trabalhando. – ela pareceu enfim ceder, passando a falar mais lentamente, e saindo de perto da porta.
– Hum. Entendo. O que ele faz?
– É advogado. Trabalha numa firma…pequenas causas. Nada muito sofisticado.
– Saquei. Deve estar melhor do que eu, de todo modo. – Adriana sorriu em resposta, mas só com a boca, não com os olhos. Busquei quebrar o gelo – Você também estudou no Jardim Verde? É muito comum ex-alunos matricularem seus filhos lá.
– Sim…estudei nele a vida inteira. Gostava do colégio. Digo, ainda gosto. Por isso matriculei Rita lá.
– Entendo. Por falar nela, onde fica o quarto?
– …nesse corredor, ao lado da cozinha. – ela apontou num movimento mínimo com a cabeça.
– Ah – observei a porta; percebi a burrice da minha pergunta, já que ela era a única que possuía um adesivo de My Little Pony – Posso entrar? – perguntei, já aproximando a mão da maçaneta.
– Não! Não. – ela deu um passo rápido e se pôs entre mim e a porta, dando um tapa forte na mão que eu tinha levantado.
– Calma. Não quero fazer nada. Só estou preocupado com Rita. Nós que lidamos com as crianças todo dia, aprendemos a reconhecer alguns sintomas…posso ver se é gripe mesmo ou algo mais sério.
– Você. Não. Vai. Entrar. – a cada palavra, se aproximava mais de mim. Deus, o que ela poderia estar escondendo?
– Por quê? Posso saber?
– Porque ela é minha filha e eu que decido quem entra em contato com ela ou não.
– Adriana. – desisti do sorriso e da farsa diplomática, dando um passo em sua direção. Nossos rostos estavam quase colados agora – Se você não me permitir ver como está a sua filha, posso entender que estão acontecendo maus tratos, e então quem sabe lhe den…
Nunca cheguei a concluir a ameaça. A porta do quarto se abriu. Ambos, assustados, nos viramos. Em pé no vão, Rita encarava firme a mãe. Se tinha me notado, eu não percebi.
Rita segurava em sua mão direita uma folha.
– Filha!
– Mamãe. – sua voz era neutra, quase artificial. – Fiz um desenho pra você. Porque te amo.
– Rita, onde você arranjou papel!? E o lápis? Porra! – Adriana gritava – Eu não deixei folha nenhuma no seu quarto, filha!
– Mamãe. Fiz um desenho pra você. Tome. É seu. – dava passinhos, ofertando o desenho à mãe.
Adriana hesitou durante alguns segundos. Por fim, aceitou o presente da filha. Observou-o só o tempo necessário para que os olhos processassem a imagem. Levantou então uma das mãos à boca, enquanto caía no chão do corredor. Começou a chorar, gemendo. Rita permaneceu na mesma posição. Eu parecia permanecer invisível para ela.
Enquanto Adriana gritava, retirei a folha de sua mão. Pensei que fosse ofertar resistência, não foi o caso. Era incapaz naquele momento de reagir ao que fosse.
No desenho, um homem enfiava uma faca no pescoço de uma mulher. A lâmina atravessava de um lado ao outro, da esquerda à direita, saindo num jorro de sangue. A boca da mulher se contorcia numa bagunça suja de dentes e língua. Uma menina de preto observava próxima, sem expressão. Sobre a cabeça da mulher, havia escrito: MAMÃE.
—
– Sai da minha casa! Agora! Sai!
Adriana gritava comigo, após ter recuperado forças para se levantar.
– Não é para ninguém ver isso! Sai!
– Mas, Adriana…
– Não quero saber! Fora! Fora, porra!
Ela me enxotou da casa aos urros enquanto destruía o desenho, rasgando a folha em metades e depois rasgando as metades em novas metades, até que tudo fosse fiapo. Ao longo de toda a cena, Rita permaneceu no local onde estava quando entregou o desenho à mãe. Antes que Adriana batesse a porta na minha cara, pude observar de relance seu corpo pequeno em pé no meio do corredor enquanto a mãe voltava a desabar sobre as tiras de papel rasgado, já rouca e com rosto inchado. Preferi não insistir. Entrei no carro e pensei no que faria.
—
Uma possibilidade seria entrar em contato com a polícia e fazer uma denúncia. Mas não creio que teria base. Nem quando conversei com Rita na escola nem hoje em sua casa constatei qualquer sinal de agressão. O único erro comprovável da mãe até agora foi, que eu saiba, não ter ligado para a escola por conta do que Rita está passando. Que, seja lá o que for, não é gripe. De todo modo, isso não justifica uma denúncia de maus tratos.
Poderia voltar a bater em sua casa, mas Adriana não me receberia. Resolvi, portanto, fazer o que um professor com tendências de investigador amador poderia fazer. Fui ao Arquivo do colégio.
Primeiro, conferi o histórico eletrônico de Rita. Praticamente nada. Que ficha corrida na escola uma menina de oito anos e três meses poderia ter? Umas seis faltas breves por doença desde que começou lá, no Maternal: um dado na faixa esperada. De resto, nada. Nenhum caso de agressão a colegas ou professores; nenhum surto; nenhuma crise asmática ou epiléptica em sala. Nothing, zero.
Estaria ela então começando a desenvolver sintomas de esquizofrenia, ou alguma psicose em geral? É possível, já tive dois alunos antes que pedi que entrassem em contato com um terapeuta infantil, mas o caso de Rita vai além. Nem a criança mais sádica que já conheci imaginou ou delirou a morte dos pais, não importa o quão abusivos eles tivessem sido. Talvez fosse algo hereditário? Hum. Adriana não parecia muito normal. Poderia ser algo que ela implantou na filha, ou quem sabe o pai. Já sei. Poderia dar uma olhada nos arquivos da mãe, já que ela também estudou aqui. Há. Vamos que vamos, Rodrigo.
Hum. Nossos arquivos iriam até tanto tempo atrás? O colégio tem quase um século, um bastião do bairro de Santana, mas não preciso chegar às origens. Adriana deve ter próximo dos quarenta. Teria saído do colégio há vinte e poucos anos, meio dos anos 90. Os dados ainda eram então registrados em papel. Rezei para que tenham digitalizado ao menos o acervo das últimas décadas. Fui conferir com meus amigos da Secretaria. Quebrei a cara, tudo ainda estava em papel. No entanto, podia conferir, se eu quisesse. Não sendo rinítico, o que me faria parar no hospital, era preciso apenas arregaçar as mangas e fuçar a papelada. Pedi a chave de acesso ao Arquivo, onde eu nunca tinha entrado.
Abri a porta, que ficava num canto do porão, e liguei a luz. Bolor e sujeira no chão, nas paredes e no teto, mas, sim, além disso, dois imensos armários de metal. As gavetas iam do A ao Z, separadas por gênero. Agradeci a ausência de problemas respiratórios aos céus e à criação pouco asseada que minha mãe me permitiu ter e, me aproximando do armário com a grande inscrição “Moças”, fui direto à gaveta com a letra A. Digo, a primeira delas. Todo o histórico anterior a 2000 devia estar ali, coletando pó, aguardando que o tempo terminasse de oxidar a celulose.
Puxei a gaveta. Deus. O chiado do metal enferrujado deve ter assustado todos os ratos do andar. Qual o sobrenome de Rita? Rita Carvalho Villas-Boas. Adriana Carvalho, portanto. Talvez haja mais de uma, vejamos. Corri os dedos pelas fichas de algumas crianças nascidas no meio do século passado, que àquela altura estavam bem longe de ser crianças, e que lá atrás tinham sido batizadas com infelicidades em forma de nome tais como Abetusa ou Acrimônia – quanto bullying devem ter sofrido, Jesus, mesmo que esse termo na época ainda estivesse para ser adotado. Logo cheguei ao batalhão das Adrianas. Adriana Abrão, Adriana Abreu, Adriana Baptista, Adriana Batista…pronto. Adriana Carvalho. Achei. E mais de uma. Quatro.
Foi fácil saber pela data de nascimento qual eu buscava. A Adriana Carvalho que estou investigando devia ter nascido no mínimo no meio dos anos 70, no máximo em 80 e pouco. Das quatro que passaram pelo Jardim Verde, a primeira é de 1952; as outras duas, dos anos 1990. Questão resolvida. Mesmo que tivesse errado grosseiramente na estimativa de idade, não poderia ser nenhuma das outras.
Sentei com a pasta para lê-la no chão, como tenho hábito de fazer sempre que quero ler e ninguém está olhando. Adriana Zaruchi Carvalho. Nascida em 1979. Trinta e oito anos. Meu chute foi preciso. Lá estava em anexo uma foto dela adolescente. Sim, era Adriana, mãe da Rita. Já tinha o olhar com que me recebeu hoje mais cedo; talvez menos inflamado, mas coberto de uma tristeza extraordinária para a idade. Analisei o histórico escolar. Nada de chamativo. Não perdeu ano algum; somente uma ou outra nota vermelha. Alguns 10 em Artes e Geografia; nenhum em Matemática. De resto, nenhum incidente. Nenhuma detenção ou ida à coordenação. Ela foi uma aluna tão mediana e pouco chamativa, para cima ou para baixo, quanto a filha indica que vai ser. Minha ideia investigativa brilhante me trouxe a um beco sem saída.
Joguei a pasta no chão para pensar melhor no que poderia estar acontecendo. Observava o teto mofado – vão deixar mesmo esse Arquivo se perder assim para o bolor? – quando algo me veio. Agitado, peguei novamente a pasta de Adriana e passei os olhos pelo histórico escolar. Só havia dados da 4ª série em diante. O que seria atualmente o 5º ano. Adriana mentiu para mim. Ela não estudou a vida inteira aqui.
—
Nesses arquivos eles registram a data de entrada no colégio? Sim. Achei. 1990. Ela já tinha dez anos completos. Onde estudou antes? Isso não consta. Eu teria como saber? Acho que só perguntando para ela. Ou fuçando os armários de sua casa atrás de xerox amareladas de matrículas dos anos 80, se é que ela guardou. Isso é insano. E onde me levaria afinal? Acho que estou enlouquecendo. Três dias que meu mundo não gira como devia.
Acreditava ter me posto em outro beco sem saída – minha única descoberta tinha sido que Adriana mentira, o que deveria na verdade já ter esperado –, quando, olhando a esmo pelo arquivo atrás de qualquer coisa que me ajudasse, notei algo. Os nomes dos pais dela. Roberto Messias Carvalho e Olga Zaruchi Carvalho. Nada chamativo neles em si, mas, ao lado direito de cada nome, constava um I.M. Peguei a pasta de outra Adriana para conferir. Ao lado dos nomes dos pais, não havia essas letras. Outra pasta ainda, para ter certeza. Também nada. Só na da Adriana Carvalho que estou investigando.
I.M. I.M. Hum. Como diz a música dos Talking Heads, qu’est-ce que c’est? Guardei as pastas na ordem em que estavam, fechei a gaveta e peguei meu celular. Sem sinal. Óbvio, estava no subsolo. Enquanto subia a escada, para poder googlar, lembrei o que significava I.M. antes que precisasse ver na Internet. Um convite de casamento que tinha recebido há alguns anos. A noiva entrou sem pai. Ao lado do nome dele, no convite, estavam lá as duas letras. I.M. In Memoriam.
Adriana já era órfã quando veio para o Jardim Verde, com dez anos.
—
Agradeci ao pessoal da Secretaria, que nem quis saber o que eu fora ver no Arquivo. Estavam ocupados demais com o Facebook. Entrei no meu carro e voltei para casa.
Já eram seis da tarde quando cheguei. Fiz um saudável jantar com linguiça e ovos, fritando tudo junto. Devidamente nutrido, fui ao melhor local para se pensar já inventado pela humanidade: o chuveiro. Liguei a ducha e pus a massa cinzenta para aquecer enquanto a água me refrescava.
Rita pareceu prever que seus pais iram morrer. Eu poderia chamar de prever ou de querer. Para tentar me manter numa linha menos macabra, vou me ater a prever. Já está suficientemente pesado dessa forma. Seguindo o pensamento. Rita parece ter previsto além disso que sua mãe iria morrer esfaqueada, por um homem. Seria eu quem mataria ela? Nunca machuquei nem um gato de rua. De onde Rita está tirando isso? Alguém está cochichando no ouvido dela? Se sim, quem? O capeta? Difícil pensar nesses termos extraterrenos; sou cético desde os dez anos de idade, quando parei de dar boa noite para Jesus antes de dormir.
Desisto. De vez em quando o melhor tipo de banho é aquele que é só um banho mesmo.
Me visto e vou para cama ler um livro. Um romance policial escandinavo, para ver se absorvo algo da introspecção imaginativa daquele povo. Não consigo avançar um só parágrafo. Cada um deles cheira a morte e me lembra novamente do que está acontecendo com Rita. Absolutamente incapaz de me concentrar noutra coisa.
Porque Adriana reagiu daquela forma? Uma mãe pediria apoio, falaria com o colégio, com o professor. Ela já viu aquilo antes? Provável. Com Rita? E se passou pela mesma situação?
Ela é órfã. Está com medo de perder a filha? Não. Está com medo de morrer. Num clarão, compreendi: Adriana previu a morte dos pais. Então ficou órfã. Agora é a filha prevendo a morte dela.
A campainha toca. Meu coração para no teto. Calma, é besteira. Quem poderia ser?
No hall, Rita.
Com uma folha.
Um homem morto, sobre uma mancha vermelha. Sobre ele, um carro preto. À distância, uma menina de preto.
Ela veste preto enquanto me observa ficando branco.
—
Ponho-a no banco de trás do meu carro. Carro, aliás, que é um Corsa Preto. Como se minha adrenalina já não estivesse alta o suficiente.
Não tenho ideia de como ela veio parar na minha casa, ou de qualquer outro fato ligado à sua aparição à minha porta. Porém, preciso levá-la de volta para casa. Sua mãe não vai machucá-la; ela está com medo é do que pode acontecer consigo. Deve inclusive estar nervosa com o sumiço da filha. Alguém deve agir como adulto racional na história: serei eu.
Chegamos à sua casa. Para quem vê por fora, todas as luzes estão aparentemente apagadas. Adriana saiu? Talvez tenha ido procurar Rita. Decido que ficarei lá esperando com ela até que algum outro adulto chegue.
A porta da frente está aberta. Fico em dúvida quanto ao que pensar sobre isso. Adriana e o marido não tiveram a preocupação de fechar antes de sair? Talvez estejam nos esperando? Insisto em perguntar a Rita sobre como ela chegou na minha casa. Questiono também se foi ela quem saiu por último e deixou a porta aberta. Para variar, ela não responde. É incrível como uma criança pode ser fechada quando quer. Não sei com o que estou lidando aqui; a minha única certeza é de que já estou imerso demais para cogitar a possibilidade de sair sem marcas.
Ligo as luzes da sala. Vazio. Sinto o peso do silêncio.
Uma última chance a Rita de me ajudar:
– Rita, você acha que a sua mãe está aqui em casa? Preciso saber onde ela se encontra para ajudar vocês duas.
– …
Ok. Desisto. Estou sozinho, envolvido por conta própria até o pescoço nisso.
Grito para ver se Adriana está ali em algum aposento. Não ouço respostas. Vou com Rita até o seu quarto. Tudo está bagunçado: brinquedos, roupas e desenhos para cima, amontoados no chão. Rita grita, solta a minha mão e corre em direção aos seus pertences: vejo ela, com o semblante triste, juntando freneticamente os papéis picotados, buscando recompor o que foi rasgado.
Enquanto ela está em seu quarto, aproveito para vasculhar o resto da casa, acendendo as luzes dos aposentos à medida que entro. A casa está um pouco suja, talvez até bagunçada, mas nada particularmente chamativo. O choro de Rita diminui de volume à medida que me afasto. Encontro o quarto do casal. A porta está encostada, mas não fechada. Bato de levo com os dedos para ver se alguém está ali; sem resposta. Abro a porta e ligo a luz.
Roupas de criança estão espalhadas sobre a cama, na parte de baixo. Seis ou sete vestidos. Um deles tem manchas de sangue. Sobre o resto da cama, mais em cima, dois conjuntos adultos de roupas: um terno e uma combinação de blusa e saia floridas. Um conjunto ao lado do outro, arranjados à perfeição como se dois adultos que ali dormiam tivessem sido abduzidos e tudo que restara fossem as roupas do corpo. Os trajes tinham feição de velhos. Ambos estavam cobertos de manchas vermelhas, já secas. Algumas delas redondas, outras retilíneas, como resíduos de sangue que voou com violência. Entre o par de vestimentas, uma foto sépia. Nela, um casal sorria com uma menina no meio.
Com uma tesoura ou faca, os olhos do casal tinham sido cortados. O sorriso da criança, rasgado.
Só nesse momento, notei que o choro de Rita parou.
—
Volto correndo a seu quarto. Flagro Adriana sobre Rita. Com uma das mãos, tampa a boca da filha enquanto com a outra segura uma faca. A menina resiste, se contorcendo e tentando gritar, mas tudo que emite é abafado.
– Adriana!
Ambas me olham. A mãe tem desespero nos olhos.
3
Adriana se levantou, mantendo o olhar fixo em mim. Segurava Rita junto a si com uma das mãos, que também tapava a boca da filha. Ela foi seguindo com cuidado a parede, me obrigando com a sua faca a manter distância. Quando enfim chegou à porta por onde eu há pouco tinha entrado, gritou:
– Fique aí! Sem sair!
Sua expressão era perturbada. Se na minha visita anterior, ela já demonstrava temor, agora se tornara um verdadeiro animal, desesperado e capaz de tudo para manter a própria vida. Acredito que só uma última fagulha de humanidade a impedia de concretizar o que estava muito próxima de fazer.
– Adriana, me escuta. Não faça isso. Você não sabe…
– O quê? Vai dizer que não sei o que estou fazendo? Sei muito bem.
– Não, você não sabe. Escuta, eu entendo o que aconteceu com você. Sei que você é órfã.
Antes mesmo que eu tivesse terminado de pronunciar aquela palavra maldita, órfã, o seu rosto já tinha se contraído. Os seus olhos, antes apenas vermelhos de desespero, tornaram-se também marejados. Adriana chorava, como deve ter tanto feito na escola Jardim Verde, todas as vezes em que seus colegas escreviam antes da primeira aula aquelas quatro letras em sua carteira, antes que ela chegasse e, ao ver o que tinha sido feito, pudesse apenas então se sentar e engolir a raiva e as lágrimas – sua vontade, em cada um daqueles dias, era de não ficar ali, era de fugir para sempre, de viajar para uma terra onde ninguém conhecesse o seu passado. Era essa mesma Adriana do passado que chorava agora à minha frente.
– Como você sabe? Você era um deles? Você estava lá? Estava? Estava, não, estava? No meio de toda aquela turma, que tanto me aporrinhou, tanto me encheu o saco, tanto fez de tudo para que eu nenhum dia esquecesse que meus pais não estavam mais vivos.
– Adriana… – dava passos aos poucos, receoso do que ela poderia fazer consigo, ou pior, com a filha, que ainda estava à sua frente, impossibilitada por uma das mãos de Adriana de se expressar. Tudo que restava a Rita era arregalar os olhos e mirar em volta, buscando entender o que acontecera com sua mãe.
– Sim…você estava ali, no meio de todos. Mas agora sei o que fazer. Não vou deixar a minha filha passar pelo que passei. Não deixarei ela perder cada noite de sono, como perdi, repassando contra a vontade todos os eventos do dia e lembrando à força de cada momento em que aquela palavra suja foi dita. Aqui e agora, cuidarei para que ela tenha uma vida muito mais tranquila do que a minha. Fazendo com que ela vá dessa para outra.
Gritei “Adriana, NÃO!” me arremessando em sua direção, disposto a fazer de tudo para impedí-la. Não a alcancei a tempo. Um jorro fez voar sangue em minha direção, em meus olhos. Não conseguia enxergar nada. Gastei um tempo limpando o rosto com as minhas mangas, desesperado para que pudesse ver algo. Até que pude enfim abrir os olhos.
– Mamãe!
Adriana estava no chão, a menos de um metro de mim. Tanto seu corpo como o de Rita estavam ensanguentados. Impossível saber de imediato o que acontecera. Enquanto a menina permanecia em pé, gritando pela mãe, me abaixei para retirar a faca das mãos de Adriana, que gemia algo incompreensível, baixinho. Ao ter a lâmina em minhas mãos, notei que ela estava limpa. Aquela faca não tinha cortado ninguém.
Em meu desespero não notara que havia outra pessoa no quarto. Imóvel e camuflado pela escuridão do corredor mal-iluminado, não percebi o volume que preenchia no vão da porta. Era um homem que também tinha uma faca em mãos. Essa sim, reluzindo vermelha.
– …Caio?
Ele assentiu com a cabeça. Finalmente, se abaixou e abraçou a filha, que parecia estar catatônica.
– Desculpa, filha. Não notei antes tudo que estava acontecendo. Precisei lhe salvar de mamãe do pior jeito…agora somos só nós dois. Ficaremos bem, filha. Prometo.
Processei aos poucos tudo que tinha acontecido, observando a figura daquele pai, agora enfim na luz do quarto, abraçando a filha, enquanto a mulher que ele recém tivera que matar jazia deitada. Duas pessoas testemunhavam a cena de carinho entre pai e filha: um vivo e uma morta.
—
Dois dias após, reencontrei pai e filha no velório. Você até acha que cada evento desses será único. Você talvez até deseje que o seu seja o mais único de todos. Não passa de uma ilusão. Todos são iguais. Muita gente de preto, um clima de merda, alguns amigos e outras tantas pessoas que você mal conhece, todas dizendo que lamentam por tudo. Os momentos antes da morte, estes sim é que são únicos. Quem está presente jamais esquece.
—
Caio foi inocentado da acusação de feminicídio por um júri popular. Antes disso, tiveram que ouvir testemunhos: meu, do próprio Caio, da Rita. O advogado contratado por Caio fez uma defesa contundente de como o cliente agiu apenas em prol da vida da própria filha. O momento que todos, defesa e acusação, aguardavam foi quando ele chamou Rita para dar seu depoimento. Mesmo que este fosse incompleto, abalado pela emoção e pela pouca idade da testemunha, era essencial, pois ninguém, literalmente, estivera mais próximo da mãe em seus últimos momentos. Três dos jurados ao fim precisaram limpar suas lágrimas, enquanto uma senhora não parou de repetir um só instante o sinal da cruz.
—
Nunca fui capaz de me distanciar de Rita e Caio. Além de ainda tê-la como aluna quando ela foi capaz de voltar às aulas, visitava-os ao menos uma vez por mês. Passamos os Natais seguintes juntos, já que eu gostava de preparar a ceia – tradicionalmente quem fazia isso no lar deles sempre fora Adriana – e não tinha para quem fazer isso. Rita, após o choque inicial, pareceu se recuperar rapidamente. O psicólogo infantil com quem fazia acompanhamento relatou a Caio que a filha, quando falava da mãe, sempre o fazia lembrando-se dos momentos ternos entre as duas. Ao fim, sua memória parece ter apagado a maior parte do que não valia mesmo a pena lembrar. Os desenhos também tinham parado, ao que tudo indicava.
—
Foram dois bons anos assim, até que o acidente premeditado um dia pela filha finalmente veio. Voltando da feira, já perto de casa, Caio se distraiu, estava com pressa, talvez estivesse apertado, ou com saudades da filha, não sei. Atravessou a rua sem olhar. Foi atropelado por um carro preto, enquanto Rita observava tudo da janela.
Só naquele momento me recordei do desenho do carro preto. Do homem ensanguentado. Da menina que assistia à distância.
Talvez tudo estivesse escrito e todo o carinho e atenção do mundo por parte de Caio não seriam capazes de alterar o seu destino. Talvez seja assim que as coisas funcionem.
—
Me perguntei várias vezes desde então se toda a tragédia não foi causada pela existência em si dos desenhos. Caio mataria Adriana e então seria atropelado se não existissem a princípio os desenhos de Rita? O que foi causa e o que foi consequência? Os desenhos foram a motivação original ou mera previsão inocente do futuro? Penso que jamais saberei.
—
Não tinha como deixar Rita abandonada. Tendo sido nos últimos dois anos a pessoa mais próxima da família, e estando em idade legal, adotei-a.
—
Algumas noites, acordava assustado, pensando em tudo que tinha acontecido. Se Rita em algum nível sabia, se ela podia ter sido manipuladora a esse ponto. Me via subitamente entendendo Adriana: como se proteger de alguém que você ama e ao mesmo tempo prevê sua morte? Seria dar cabo daquele problema a única saída? Meu Deus, isso jamais poderia ser pensado por um pai ou mãe.
Nesses momentos, quando minha mente era incapaz de dissipar esse raciocínio friamente lógico, eu batia em sua porta perguntando se estava tudo bem. Todas as vezes, em pouco tempo, ela me respondia, dizendo que sim, que agradecia por eu tê-la recebido, e que me amava como um pai, enquanto os dois se abraçavam.
—
Assim se seguiu até que Rita fizesse quinze anos. Eu já não dava mais aula no Jardim Verde. Tinha ido para uma escola onde me pagavam melhor. Em seu aniversário, dei um jeito em relação ao rodízio de aulas para permanecer em casa, para que pudesse passar todo o dia do aniversário da minha filha junto a ela.
Abri às sete da manhã a sua porta segurando seu presente, um notebook novo que tinha comprado de fora.
– Filha, parabéns! Olha o que trouxe…
Esperava-a encontrar já levantada, como era seu costume, uma adolescente que nunca gostou de ficar até tarde na cama. Naquele dia, entretanto, se escondia de corpo inteiro embaixo dos lençóis. Era uma manhã quente, não entendi. Estaria doente?
– Filha, está tudo bem?
Puxei o lençol para poder ver seu rosto. Estava inchado de lágrimas. Perguntei, já nervoso, o que tinha acontecido. Ela, sem dizer nada, apenas gesticulou com a cabeça em direção ao outro lado do quarto. Nada tinha ali, só uma parede. Sem entender, dei a volta na cama.
No chão, havia uma folha, desenhada com o traço inconfundível de Rita, que eu conhecia há oito anos.
Abaixei-me para ver melhor o que estava desenhado enquanto temores represados transbordavam, anos esquecidos vindo à tona como uma enchente incontrolável.
No papel, havia uma janela por onde se via a lua. Um homem tremendo de medo estrangulava uma moça deitada. Moça cujos olhos saltavam para fora como os de uma velha e puída boneca de pano. As feições eram claras e reconhecíveis. Eu e Rita.